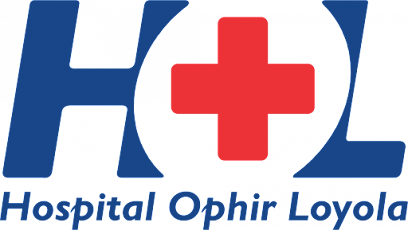sexta-feira, 16 de dezembro de 2011
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
CAIPORA
Certo dia, estava numa comunidade a margem da estrada, em Santarém, Norte do Brasil, no coração da Região Amazônica, localizava-se no alto da Serra, onde tinha uma árvore, na foz do rio Curuá-una, muito especial que dava um fruto de bastante vigor energético o guaraná. Nesse dia, lia um dos mil contos das mil e uma noite. Quando na terna chegada do anoitecer dei-me de sobre salto ao ouvir um assovio vindo da mata. Era um assubiu constante pensei ser o pia da onça ou algo parecido, subiu-me um calafrio, fiquei ouvindo o assubiu que me lembrou da Matita-pereira. Seria ela que estava a me encontrar. Logo depois de alguns minutos desse som caiu uma nevoa e o frio me ateve. Que assombramento tive, o som do assobio não cessou apenas se distancio. Meu deus disse a mim mesmo é ela que veio me atormentar, conseguirei vencer esse medo e encontrar essa temível aparição.
No outro dia, dei a consultar os informantes que aqui já havia feito amizade. Contei para uma jovem menina de nome Jessika que fiquei com medo naquela noite, pois acreditava ter ouvido a onça piar no meio da mata. Ela me perguntou porque achava ser a onça, disse-lhe que ouvi um sumido endurecedor na noite, então ela me disse se tratar do Caipora, uma entidade mística da floresta, logo lhe perguntei se alguém já o tinha visto, Jessika me respondeu que não todos aqui respeitam a mata e preferem nem imaginar como é ele.
- O Caipora quem seria o Caipora, meu Deus o Caipora, falava com meus botões.
Assim, fui para a cidade conversando com um rapaz na orla da cidade coloquei-lhe o caso de ter ouvido uma onça piar, mas que depois vim a saber se tratar do Caipora. E indaguei se sabia algo sobre o dito Caipora se era do bem ou do mal. Ele me respondeu apenas que tinha ouvido falar e disseram-lhe ser um índio velho. Interessante, seria esse Caipora a representação do Tamá-Tajá e a Matita a Tucuji que viveram um amor em vida tão sublime que não há metáfora para comparar e nem antítese para se opor.
Quando voutei para a comunidade. Dei-me a reflexão dos fatos é talvez tivesse que entrar na mata, me “abicorá” dentro dela para encontrar esse entidade mística da Floreta Amazônica. Para isso, preferi não ir só, convidei um senhor antigo caçador que vivia na taberna da esquina, chamavam-o de pé-inchado, o que queria dizer que era um pião-cachaceiro, não era um cabloco da região era um imigrante que veio em busca de viver tranquilo na Floretsa Amazônica, e veio criança para cá trazido por seus pais, quando da abertura da Transamazônica.
No dia seguinte, adentramos na mata e começamos a entrar, adentrar, entrar, quando chegou o anoitecer, acampamos próximo a um igarapé de águas imensamente geladas e dava para ouvir no fundo de suas águas o som da cobra grande, o que me fazia ficar poucos minutos dentro d’água barenta, limpida e escura. Dormimos bem a noite. Na manhã continuamos a adentrar na mata fechada. Seu pé inchado contou-me quando conseguiu caçar seu peimeiro tatu, disse ele:
- Estavu casadu i minha muier pegava todo meu dinheiro que escondia na casa, não tinha mais onde esconder, achei de colocar no cano do bodogue, ondi acredita nunca ela enconta, mas sabi, que fui armar a armadilha no matu, quando depois de alguns dias veio o domingo i a vontadi di toma uma cachacinha, fui atraz do dinheiro, mas não encontrava quando lembrei estava no bodogue, corri na mata quando vi a armadilha tinha pego um tatu e ao ladu um pedaço da nota de vinte reais.
Depois, de três dia de mesma rotina saímos subitamente para meu espanto no meio de um enorme clarão, as máquinas estavam paradas, o trator, as motosserras, e os homens faziam sua cesta depois da bóia.
Que coisa, o mateiro tinha me feito andar tanto para me mostrar o motivo do Caipora está aparecendo por lá. Essa entidade concluir é o assobio do aviso da mata. O guerreiro Tambá se manifestando avisando que algo de ruim estava acontecendo naquela região. Opá disse ao pião, voltamos sem sermos vistos e durante a caminhada de volta acampamos na margem do igarapé, fizemos uma fogueira para São Pedro que era seu dia. Estava sentado olhando a fogueira e fumando um maratá, o pé inchado já havia saído da água com a janta um surubim de uns 12K que colocamos para assar em folha de bananeira.
Já contava tarde da noite pé inchado estava dormindo quando comecei a ouvir um assobio que me fez congelar, petrifiquei não conseguia nem me mover, nem emitir nem um som, era muito próximo, aí vi uma árvore se materializar em espectro de um índio, que veio em minha direção e sentou-se na minha frente, estava completamente nu e todo pintado como para a guerra, olhou-me avidamente e ergueu umA cuia cheio de grafias tapajônicas, erguendo em minha direção, não pude recusar. Apanhei o copo como em reflexo e olhei dentro era uma bebida marrom, olhei nos olhos ternos do índio que me fez beber aquele líquido e devolvi o copo em forma de cuia. Num piscar de olhos ele tinha sumido de minha frente e a árvore voltou a aparecer, caio a nevoa sobre nos e a fogueira se apagou, comecei a sonhar acordado com o futuro e nesse sonho vi a destruição, a ganância, o fim de um universo de riquezas mil, em virtude da cobiça do que os madeireiro chamam de ouro da Amazônia, a madeira. Cai no sono noutro dia, ao lado das cinzas da madeira estava a cuia com a gráfia tapajônica, parecia-me um mapa, peguei-a é guardei, pois estava certo de possui um significado, uma mensagem encoberta naqueles símbolos.
Na manhã seguinte falei a pé inchado que havia tido um terrível pesadelo e que gostaria de que ele me levasse em algum lugar tranqüilo. Ele me respondeu apenas “simbora", e seguiu a ternos passos, fui seguindo-o logo atrás, depois de uma longa caminhada chegamos a margem de um rio e do outro lado estava aquela linda belezura, a ILHA DO aMOR, lugar paradisíaco, desabitado com uma linda praia.
Leia masis...
No outro dia, dei a consultar os informantes que aqui já havia feito amizade. Contei para uma jovem menina de nome Jessika que fiquei com medo naquela noite, pois acreditava ter ouvido a onça piar no meio da mata. Ela me perguntou porque achava ser a onça, disse-lhe que ouvi um sumido endurecedor na noite, então ela me disse se tratar do Caipora, uma entidade mística da floresta, logo lhe perguntei se alguém já o tinha visto, Jessika me respondeu que não todos aqui respeitam a mata e preferem nem imaginar como é ele.
- O Caipora quem seria o Caipora, meu Deus o Caipora, falava com meus botões.
Assim, fui para a cidade conversando com um rapaz na orla da cidade coloquei-lhe o caso de ter ouvido uma onça piar, mas que depois vim a saber se tratar do Caipora. E indaguei se sabia algo sobre o dito Caipora se era do bem ou do mal. Ele me respondeu apenas que tinha ouvido falar e disseram-lhe ser um índio velho. Interessante, seria esse Caipora a representação do Tamá-Tajá e a Matita a Tucuji que viveram um amor em vida tão sublime que não há metáfora para comparar e nem antítese para se opor.
Quando voutei para a comunidade. Dei-me a reflexão dos fatos é talvez tivesse que entrar na mata, me “abicorá” dentro dela para encontrar esse entidade mística da Floreta Amazônica. Para isso, preferi não ir só, convidei um senhor antigo caçador que vivia na taberna da esquina, chamavam-o de pé-inchado, o que queria dizer que era um pião-cachaceiro, não era um cabloco da região era um imigrante que veio em busca de viver tranquilo na Floretsa Amazônica, e veio criança para cá trazido por seus pais, quando da abertura da Transamazônica.
No dia seguinte, adentramos na mata e começamos a entrar, adentrar, entrar, quando chegou o anoitecer, acampamos próximo a um igarapé de águas imensamente geladas e dava para ouvir no fundo de suas águas o som da cobra grande, o que me fazia ficar poucos minutos dentro d’água barenta, limpida e escura. Dormimos bem a noite. Na manhã continuamos a adentrar na mata fechada. Seu pé inchado contou-me quando conseguiu caçar seu peimeiro tatu, disse ele:
- Estavu casadu i minha muier pegava todo meu dinheiro que escondia na casa, não tinha mais onde esconder, achei de colocar no cano do bodogue, ondi acredita nunca ela enconta, mas sabi, que fui armar a armadilha no matu, quando depois de alguns dias veio o domingo i a vontadi di toma uma cachacinha, fui atraz do dinheiro, mas não encontrava quando lembrei estava no bodogue, corri na mata quando vi a armadilha tinha pego um tatu e ao ladu um pedaço da nota de vinte reais.
Depois, de três dia de mesma rotina saímos subitamente para meu espanto no meio de um enorme clarão, as máquinas estavam paradas, o trator, as motosserras, e os homens faziam sua cesta depois da bóia.
Que coisa, o mateiro tinha me feito andar tanto para me mostrar o motivo do Caipora está aparecendo por lá. Essa entidade concluir é o assobio do aviso da mata. O guerreiro Tambá se manifestando avisando que algo de ruim estava acontecendo naquela região. Opá disse ao pião, voltamos sem sermos vistos e durante a caminhada de volta acampamos na margem do igarapé, fizemos uma fogueira para São Pedro que era seu dia. Estava sentado olhando a fogueira e fumando um maratá, o pé inchado já havia saído da água com a janta um surubim de uns 12K que colocamos para assar em folha de bananeira.
Já contava tarde da noite pé inchado estava dormindo quando comecei a ouvir um assobio que me fez congelar, petrifiquei não conseguia nem me mover, nem emitir nem um som, era muito próximo, aí vi uma árvore se materializar em espectro de um índio, que veio em minha direção e sentou-se na minha frente, estava completamente nu e todo pintado como para a guerra, olhou-me avidamente e ergueu umA cuia cheio de grafias tapajônicas, erguendo em minha direção, não pude recusar. Apanhei o copo como em reflexo e olhei dentro era uma bebida marrom, olhei nos olhos ternos do índio que me fez beber aquele líquido e devolvi o copo em forma de cuia. Num piscar de olhos ele tinha sumido de minha frente e a árvore voltou a aparecer, caio a nevoa sobre nos e a fogueira se apagou, comecei a sonhar acordado com o futuro e nesse sonho vi a destruição, a ganância, o fim de um universo de riquezas mil, em virtude da cobiça do que os madeireiro chamam de ouro da Amazônia, a madeira. Cai no sono noutro dia, ao lado das cinzas da madeira estava a cuia com a gráfia tapajônica, parecia-me um mapa, peguei-a é guardei, pois estava certo de possui um significado, uma mensagem encoberta naqueles símbolos.
Na manhã seguinte falei a pé inchado que havia tido um terrível pesadelo e que gostaria de que ele me levasse em algum lugar tranqüilo. Ele me respondeu apenas “simbora", e seguiu a ternos passos, fui seguindo-o logo atrás, depois de uma longa caminhada chegamos a margem de um rio e do outro lado estava aquela linda belezura, a ILHA DO aMOR, lugar paradisíaco, desabitado com uma linda praia.
Leia masis...
sexta-feira, 2 de setembro de 2011
Notícia: Salão Xumucuís de Arte Digital

O Instituto de Língua Viva teve o prazer de estar na maior exposição do gênero no Norte do Brasil, a exposição XUMUCUÍS de arte digital, em exposição no Museu de Arte Conteporânia, localizado no Sistema Integrado de Museus, na capital Belém - Pa.
A exposição contando com participantes de várias partes do país. O visitante delira com uma transmissão de sentimentalismo e emoção, jamais visto, um desejo de todo o pintor romantico, trasmitir ao público senações que na arte contempôranea se torna realidader, com a mistira de imagem em movimento e som, pode ser vista e sentida nas salas de exposição desse brilhante salão.
Visite e sinta.
sAIBA MAIS
sábado, 23 de julho de 2011
FICHAMENTO: Crivo de papel, de Benedito Nunes
O ENSINAMENTO
O diálogo conserva o curso da dialogação, dependendo da maiêutica, põe, no começo, os contendores ocupando posições distintas, uns Mestres que ensinam, outros como Discípulos que deles aprendem.
Confusão: hoje tendemos a embaralhar essas posições, confundindo a relação entre Mestre e Discípulo com o nexo que Hegel estabeleceu entre Senhor e Escravo.
Verdade: Mas o que se passa na meiêtica, um procedimento oral de pergunta e resposta, inventado por quem foi, como Sócrates, que nada escreveu, um pensamento de voz e não de texto?
Ela manifesta A PRETENSÃO de nada ensinar a não ser o princípio de que qualquer um só pode aprender pelos seus próprios meios. O professor é como a parteira da imagem socrática: ele ajuda a partejar a ideia, a fazer nascer a conceituação no Discípulo, que só vem à luz quando, auxiliado pelo professor, pelo Mestre, seu oponente, o Discípulo a retira de seu espirito – como se diria Socrátes recorresse a uma lembrança – à custa de um esforço intelectual próprio, que o antagonista estimula e por obra do qual descobre por si mesmo o caminho da verdade, de que o Mestre não tem a posse. Se tivesse, o Mestre estaria para o Discípulo assim como o Senhor está para o Escravo a quem domina.
Dessa forma, ensinar Filosofia não é professar uma doutrina determinada, mas, conforme o velho Kant, ensinar a filosofar, o que significa transmitir a aptidão de pensar a razão ou o fundamento de qualquer concepção, doutrina ou sistema. Só se transmite essa aptidão a outrem se também se é capaz de aprender dele – do que afirma ou refuta com o auxílio de bons argumentos.
O ENTENDIMENTO
O entendimento é comum, compartilhado, ou a razão perde a sua autoridade, e a verdade, professada pelo filósofo, decai para o estado de aceitação autoritária, instrumentando o poder de quem a preofessa.
CONCLUSÃO
Forçoso é concluir, portanto, que a meiêutica alterna as posições do Mestre e do Discípulo, distintas e antagônicas no começo da dialogação, até que Mestre e Discípulo possam caminhar juntos, num symphilosophieren, num filosofar em comum, quando quem ensina também aprende e quem aprende ensina. Portanto, o diálogo como forma literária, que reincorpora a dialogação na dialética, conforma a conaturalidade entre ensino e Filosofia.
(pg. 161 à 163)
O diálogo conserva o curso da dialogação, dependendo da maiêutica, põe, no começo, os contendores ocupando posições distintas, uns Mestres que ensinam, outros como Discípulos que deles aprendem.
Confusão: hoje tendemos a embaralhar essas posições, confundindo a relação entre Mestre e Discípulo com o nexo que Hegel estabeleceu entre Senhor e Escravo.
Verdade: Mas o que se passa na meiêtica, um procedimento oral de pergunta e resposta, inventado por quem foi, como Sócrates, que nada escreveu, um pensamento de voz e não de texto?
Ela manifesta A PRETENSÃO de nada ensinar a não ser o princípio de que qualquer um só pode aprender pelos seus próprios meios. O professor é como a parteira da imagem socrática: ele ajuda a partejar a ideia, a fazer nascer a conceituação no Discípulo, que só vem à luz quando, auxiliado pelo professor, pelo Mestre, seu oponente, o Discípulo a retira de seu espirito – como se diria Socrátes recorresse a uma lembrança – à custa de um esforço intelectual próprio, que o antagonista estimula e por obra do qual descobre por si mesmo o caminho da verdade, de que o Mestre não tem a posse. Se tivesse, o Mestre estaria para o Discípulo assim como o Senhor está para o Escravo a quem domina.
Dessa forma, ensinar Filosofia não é professar uma doutrina determinada, mas, conforme o velho Kant, ensinar a filosofar, o que significa transmitir a aptidão de pensar a razão ou o fundamento de qualquer concepção, doutrina ou sistema. Só se transmite essa aptidão a outrem se também se é capaz de aprender dele – do que afirma ou refuta com o auxílio de bons argumentos.
O ENTENDIMENTO
O entendimento é comum, compartilhado, ou a razão perde a sua autoridade, e a verdade, professada pelo filósofo, decai para o estado de aceitação autoritária, instrumentando o poder de quem a preofessa.
CONCLUSÃO
Forçoso é concluir, portanto, que a meiêutica alterna as posições do Mestre e do Discípulo, distintas e antagônicas no começo da dialogação, até que Mestre e Discípulo possam caminhar juntos, num symphilosophieren, num filosofar em comum, quando quem ensina também aprende e quem aprende ensina. Portanto, o diálogo como forma literária, que reincorpora a dialogação na dialética, conforma a conaturalidade entre ensino e Filosofia.
(pg. 161 à 163)
segunda-feira, 27 de junho de 2011
A ARGUMENTAÇÃO NO TEXTO DISCURSO
A ARGUMENTAÇÃO NO TEXTO DISCURSO
O texto discursivo tem como uma de suas características a argumentação, que visa, sobretudo; convencer, persuadir ou influenciar o leitor. Para isso o vestibulando deve dissertar, ou seja, expor, explicar e interpretar idéias essas que expressam o que sabe ou acredita saber a respeito de determinado assunto; escrevendo sua opinião e apresentando soluções de forma clara, racional e lógica. No entanto, deve ser observado que sua opinião não pode ser distanciar da realidade e nem da moral, ou seja, não devem atribuir idéias não possuidoras de uma noção racional. Isso porque existem duas possibilidades aquilo que não pode ser argumentado e aquilo que pode ser argumentado. Então aquilo que não pode ser argumentado nem deve ser escrito, a exemplo o insulto, a ironia, o preconceito, o sacarmos, por mais brilhantes que sejam, por mais que irritem ou perturbem o oponente, jamais constituem argumentos, antes revelam a falta deles e aquilo que pode ser argumentado o vestibulando utilizar-se-á do processo de interxtextualidade para escrever, pois assim não fugira do tema proposto nem da coerência e consistência que seu texto deve possuir, assim desenvolverá uma construção textual com finalidade cooperativa e socialmente útil.
Agora o vestibulando tomará conhecimento de alguns tipos de argumentos e depois de componentes da argumentação, que ira auxiliar em sua prática;
TIPOS DE ARGUMENTOS
l Comparação
Estabelece o confronto entre duas realidades diferentes, seja no tempo, seja no espaço, seja nas características físicas, etc.
l Alusão Histórica
O autor retoma acontecimentos do passado para explicar fatos do presente.
l Argumentos com provas concretas
Consistem na apresentação de dados estatísticos, resultados de enquetes, dados objetivos, como cifras de investimentos, de despesas e lucros, renda per capita, valores da dívida externa, índices de mortalidade infantil, aumento ou diminuição dos casos de AIDS, ETC.
l Argumentos consensuais
São aqueles em que certas “verdades” aceitas por todos são utilizadas. São afirmações que não dependem de comparação, como por exemplo, “Todo ser humano precisa de boas alimentação e lazer”. “A poluição diminui a qualidade de vida nas grandes cidades”, etc.
l Relações de causa e efeito
São responsáveis pelo estabelecimento de relações de causalidade entre idéias de um mesmo parágrafo ou entre as idéias de um parágrafo e a tese defendida.
l Argumento de autoridade
Apresenta o ponto de vista de uma autoridade ou de uma pessoa reconhecida na área do assunto em discussão. Podem ser frases célebres ou trechos de escritos de cientistas, técnicos, artistas, filósofos, políticos, etc. As citações podem ser feitas em discursos direto oi indireto. No caso do indireto, basta citar o nome da pessoa e resumir suas idéias; quando transcrita em discurso direto, a citação deve vir entre aspas e a indicação do autor pode ser feita com expressões do tipo “Como disse fulano...”, Já lembrava fulano...”, ou entre parênteses.
No exemplo que segue, veja o uso das duas formas de citação:
A Antropologia Cultural demonstra que todas as culturas possuem um caráter lúdico, isto é, o jogo é um elemento da cultura,ele participa da sua construção, manutenção e difusão.
Essa tese é reforçada por Salimon, ao afirmar que “as características do jogo (forma mais pura do lúdico) favorecem tanto o gesto da criação como o da transmissão cultural pelos elementos e traços que evoca”( Salimon, 1996: p. 6). Segundo Oliveira, o poder cultural dos jogos e dos brinquedos, em que se tratando da transmissão e reforço de valores, e marcante.
(Cássio Miranda dos Santos. Presença Pedagógica, set/out. 1998)
Ao estruturar um texto discursivo, convém diversificar os tipos de argumento. Porém, mais importante do que a diversidade e a quantidade de argumentos, é a utilização de argumentos fortes e bem fundamentados, que possam, de fato, persuadir o leitor.
COMPONENTES DA ARGUMENTAÇÃO
l Componentes introdutórios
- comecemos por
- a primeira observação recai sobre
-inicialmente, é preciso lembrar que
- a primeira observação importante a ser feita é que
l As transições
- passemos então a
- voltemos então a
- mais tarde voltaremos a
- antes de passar a... é preciso observar que...
- sublinhado isto
l Os componentes de conclusão
- logo
- conseqüentemente
- é por isso que
- afinal
- em suma
- pode-se concluir afirmando que
l A enumeração
- em primeiro (segundo,etc) lugar
- e por último
- e em último lugar
- inicialmente
- e em seguida, além do mais, além disso, além de que, aliás
- a / / se acrescenta, por outro lado
- enfim
- se acrescentarmos por fim
l Os componentes de concessão
- é certo que
- é verdade que
- evidente, seguramente, naturalmente
- incontestavelmente, sem dúvida alguma
- pode ser que
l As expressões de reserva
- todavia
- no entanto, entretanto
- mas, porém
- contudo
l Os componentes de insistência
- não apenas...mas
- mesmo
- com muito mais razão
- tanto mais que
l A inserção de um exemplo
- consideremos o caso de
- tal é o caso apenas ilustra
- o exemplo de ... confirma
- etc.
LINGUAGEM IMPESSOAL
No texto argumentativo predomina-se a voz de uma pessoa ausente assim como na narrativa, porém com a linguagem impessoal em que consiste em um diálogo direto com o leitor. O escritor utiliza-se da terceira pessoa verbal com sentido de segunda pessoa (pessoal), é a grande marca introduzida no jornalismo por Machado de Assis, esse estilo de escrita introjeta no leitor uma visão de mundo, tornando-o parte integrante do fato que está sendo sustentado pelo escritor e as circunstâncias apresentadas podem ou não terem ocorrido por omissão do leitor, que se identifica com o fato e o tem como seus próprios argumentos.
ATIVIDADE
Pesquise em jornais ou revistas e transcreva no comentário desta página o trecho da matéria, que apresente pelo menos um ou mais componentes da argumentação, não esquecendo de identificar: título, jornal ou revista, caderno ou página e data.
O texto discursivo tem como uma de suas características a argumentação, que visa, sobretudo; convencer, persuadir ou influenciar o leitor. Para isso o vestibulando deve dissertar, ou seja, expor, explicar e interpretar idéias essas que expressam o que sabe ou acredita saber a respeito de determinado assunto; escrevendo sua opinião e apresentando soluções de forma clara, racional e lógica. No entanto, deve ser observado que sua opinião não pode ser distanciar da realidade e nem da moral, ou seja, não devem atribuir idéias não possuidoras de uma noção racional. Isso porque existem duas possibilidades aquilo que não pode ser argumentado e aquilo que pode ser argumentado. Então aquilo que não pode ser argumentado nem deve ser escrito, a exemplo o insulto, a ironia, o preconceito, o sacarmos, por mais brilhantes que sejam, por mais que irritem ou perturbem o oponente, jamais constituem argumentos, antes revelam a falta deles e aquilo que pode ser argumentado o vestibulando utilizar-se-á do processo de interxtextualidade para escrever, pois assim não fugira do tema proposto nem da coerência e consistência que seu texto deve possuir, assim desenvolverá uma construção textual com finalidade cooperativa e socialmente útil.
Agora o vestibulando tomará conhecimento de alguns tipos de argumentos e depois de componentes da argumentação, que ira auxiliar em sua prática;
TIPOS DE ARGUMENTOS
l Comparação
Estabelece o confronto entre duas realidades diferentes, seja no tempo, seja no espaço, seja nas características físicas, etc.
l Alusão Histórica
O autor retoma acontecimentos do passado para explicar fatos do presente.
l Argumentos com provas concretas
Consistem na apresentação de dados estatísticos, resultados de enquetes, dados objetivos, como cifras de investimentos, de despesas e lucros, renda per capita, valores da dívida externa, índices de mortalidade infantil, aumento ou diminuição dos casos de AIDS, ETC.
l Argumentos consensuais
São aqueles em que certas “verdades” aceitas por todos são utilizadas. São afirmações que não dependem de comparação, como por exemplo, “Todo ser humano precisa de boas alimentação e lazer”. “A poluição diminui a qualidade de vida nas grandes cidades”, etc.
l Relações de causa e efeito
São responsáveis pelo estabelecimento de relações de causalidade entre idéias de um mesmo parágrafo ou entre as idéias de um parágrafo e a tese defendida.
l Argumento de autoridade
Apresenta o ponto de vista de uma autoridade ou de uma pessoa reconhecida na área do assunto em discussão. Podem ser frases célebres ou trechos de escritos de cientistas, técnicos, artistas, filósofos, políticos, etc. As citações podem ser feitas em discursos direto oi indireto. No caso do indireto, basta citar o nome da pessoa e resumir suas idéias; quando transcrita em discurso direto, a citação deve vir entre aspas e a indicação do autor pode ser feita com expressões do tipo “Como disse fulano...”, Já lembrava fulano...”, ou entre parênteses.
No exemplo que segue, veja o uso das duas formas de citação:
A Antropologia Cultural demonstra que todas as culturas possuem um caráter lúdico, isto é, o jogo é um elemento da cultura,ele participa da sua construção, manutenção e difusão.
Essa tese é reforçada por Salimon, ao afirmar que “as características do jogo (forma mais pura do lúdico) favorecem tanto o gesto da criação como o da transmissão cultural pelos elementos e traços que evoca”( Salimon, 1996: p. 6). Segundo Oliveira, o poder cultural dos jogos e dos brinquedos, em que se tratando da transmissão e reforço de valores, e marcante.
(Cássio Miranda dos Santos. Presença Pedagógica, set/out. 1998)
Ao estruturar um texto discursivo, convém diversificar os tipos de argumento. Porém, mais importante do que a diversidade e a quantidade de argumentos, é a utilização de argumentos fortes e bem fundamentados, que possam, de fato, persuadir o leitor.
COMPONENTES DA ARGUMENTAÇÃO
l Componentes introdutórios
- comecemos por
- a primeira observação recai sobre
-inicialmente, é preciso lembrar que
- a primeira observação importante a ser feita é que
l As transições
- passemos então a
- voltemos então a
- mais tarde voltaremos a
- antes de passar a... é preciso observar que...
- sublinhado isto
l Os componentes de conclusão
- logo
- conseqüentemente
- é por isso que
- afinal
- em suma
- pode-se concluir afirmando que
l A enumeração
- em primeiro (segundo,etc) lugar
- e por último
- e em último lugar
- inicialmente
- e em seguida, além do mais, além disso, além de que, aliás
- a / / se acrescenta, por outro lado
- enfim
- se acrescentarmos por fim
l Os componentes de concessão
- é certo que
- é verdade que
- evidente, seguramente, naturalmente
- incontestavelmente, sem dúvida alguma
- pode ser que
l As expressões de reserva
- todavia
- no entanto, entretanto
- mas, porém
- contudo
l Os componentes de insistência
- não apenas...mas
- mesmo
- com muito mais razão
- tanto mais que
l A inserção de um exemplo
- consideremos o caso de
- tal é o caso apenas ilustra
- o exemplo de ... confirma
- etc.
LINGUAGEM IMPESSOAL
No texto argumentativo predomina-se a voz de uma pessoa ausente assim como na narrativa, porém com a linguagem impessoal em que consiste em um diálogo direto com o leitor. O escritor utiliza-se da terceira pessoa verbal com sentido de segunda pessoa (pessoal), é a grande marca introduzida no jornalismo por Machado de Assis, esse estilo de escrita introjeta no leitor uma visão de mundo, tornando-o parte integrante do fato que está sendo sustentado pelo escritor e as circunstâncias apresentadas podem ou não terem ocorrido por omissão do leitor, que se identifica com o fato e o tem como seus próprios argumentos.
ATIVIDADE
Pesquise em jornais ou revistas e transcreva no comentário desta página o trecho da matéria, que apresente pelo menos um ou mais componentes da argumentação, não esquecendo de identificar: título, jornal ou revista, caderno ou página e data.
sexta-feira, 13 de maio de 2011
FICHAMENTO: SILVA, Vitor Manuel de Aguiar. Teoria da Literatura, ed. 8ª, editora Coimbra, 1996.
CAPITULO 10
O ROMANCE: HISTÓRIA E SISTEMA DE UM GÉNERO LITERÁRIO
“Se o século XVII constitui a época áurea da moderna tragédia, o século XIX constitui inegavelmente o período mais esplendoroso da história do romance. Depois das fecundas experiências dos românticos, sucederam-se, durante toda a segunda metade do século XIX, as criações dos grandes mestres do romance europeu. Forma de arte já sazonada, dispondo de uma vasta audiência e disfrutando de um prestígio crescente, o romance domina a cena literária. Com Flaubert, Maupassant e Henry James, a composição do romance adquire uma mestria e um rigor desconhecidos até então; com Tostoj e Dostoiewskij, o universo romanesco alargou-se e enriqueceu-se com experiências humanas pertubantes pelo seu carácter abismal, estranho e demoníaco: com os realistas e naturalistas, em geral, a obra romanesca aspira à exactidão da monografia, de estudo científico dos temperamentos e dos meios sociais. Em vez dos heróis altivos e dominadores, relevantes quer no bem, quer no mal, tanto na alegria como na dor, característicos das narrativas românticas, aparecem nos romances realistas as personagens e os acontecimentos triviais e anódinos extraídos da baça e chata rotina da vida”.(PG. 683)
“Depois, no declinar do século XIX e nos primeiros anos do século XX: aparecem os roamances de análise psicológica de Marcel Proust e de Virginia Woolf; James Joyce cria os seus grandes roamnces de dimensões míticas, construídos em torno das recorrências dos arquétipos (Ulisses e Finnegans Wake); Kafka dá a conhecer os seus romances simbólicos e alegóricos. Renovam-se os temas, exploram-se profundamente as técnicasde narrar, de construir a intriga, de apresenatr as personagens. Sucedem-se o romance neo-realista, o romance existencialista, o neuveu roman . O roamance não cessa, enfim, de revestir novas formas e de exprimir novos conteúdos, numa singular manifestação da perene inquietude estética e espiritual do homem”.(pg. 684)
“Segundo alguns críticos, o romance actual, depois de tão profundas e numerosas metamorfoses e aventuras, sofre de uma insofismável crise, aproximando-se do seu declínio e esgotamento. Seja qual for o valor de tal profesia, um facto, porém, não importante do nosso tempo, pelas possibilidades expressivas que oferece ao autor e pela difusão e influência que alcança entre o público”.(pg. 684)
CLASSIFICAÇÃO TIPOLOGICA DO ROMANCE
WOLFGANG KAYSER
“Tomando em consideração o diverso tratamento que podem apresentar o evento, a personagem e o espaço, fundamentais elementos constitutivos do romance, estabelece a seguinte classificação tipológica:
a) Romance de acção ou de acontecimento: Romance caracterizado por uma intriga concentrada e fortemente desenhada, com princípio, meio e fim bem estruturados. A sucessão e o encadeamento das situações e dos episódios ocupam o primeiro plano, relegando para lugar muito secundário a análise psicológica das persoangens e a descrição dos meios. Os romances de Walter Scott e de Alexandre Dumas exemplificam este tipo de romance.
b) Romance de personagem: Romance caracterizado pela existência de uma única persoanagem central, que o autor desenha e estuda demoradamente e à qual obedece todo o desenvolvimento do romance. Trata-se, frequentemente, de um romance propenso para subjetivismo lírico e para o tom confessional, como sucede com o Werther de Goethe, o Adolphe de Bejamim Constant, o Raphael de Lamartine, etc. O título é, em geral, pois é constituído, com muita frequência, pelo próprio nome da personagem central.
c) Romance de espaço: Roamance que se caracteriza pela primazia que concede à pintura do meio histórico e dos ambientes sociais nos quais decorre a intriga. É o que se verifica nos romances de Balzac, de Zola, de Eça de Queirós, de Tolstoj, etc. Balzac, ao colocar a sua obra romanesca sob o título de genérico de Comédie humaine, revelou bem o seu desejo de oferecer um vasto quadro da sociedade do seu tempo. O meio descrito pode ainda ser geográfico ou telúrico, como sucede na Selva de Ferreira Castro ou nas Terras do demo de Aquino Ribeiro, embora este meio telúrico seja indissociável, na visão do romancista, do homem que nele se integra. O romance brasileiro, por exemplo, tende poderosamente para este tipo de romance.
Obs: “O valor é aceitável, se não lhe conferirmos um valor absoluto e de rigidez extrema. Com efeito, é impossível encontrar um roamnce concreto que realiza de modo puro cada uma das modalidades tipológicas estabelecidas por Wolfgang Kayser, acontecendo também que muitos romances, pela sua riqueza e pela sua complexidade, dificilmente podem ser integrados nesta ou naquela classe.(pg. 686)
A PERSONAGEM
“A personagem constitui um elemento estrutural indispensável da narrativa romanesca. Sem personagem, ou pelo menos sem agente, como observa Roland Bathes, Não esiste verdadeiramente narrativa, pois a função e o significado das acções ocorrentes numa sintagmática narrativa dependem primordialmente da atribuição ou da referência dessas acções a uma personagem ou a um agente”. (pg. 687)
ÓPTICA FUNCIONALISTA
Greimas
“substitui o conceito de personagem pelo termo termo de actante”. (pg. 687)
personagem > actante
Sémantique struturale
Este termo e esse conceito têm origem lingüística, derivando da sintaxe estrutural de LUCIEN TESNIÈRE.
“O núcleo verbal, afirma Tesnière, exprime “um pequeno drama” que comporta sempre um processo, actantes e circunstâncias”.
EXPLICAÇÃO
“Transpondo estes conceitos para o plano da sintaxe estrutural, teremos respectivamente o verbo, os actantes e os circunstânciais.
• Actantes: são sempre substantivos ou equivalentes de substantivos, são subordinados imediatos do verbo e podem classificar-se em “primeiro actante”, “segundo actante” e t”erceiro actante”.
1. Primeiro actante: é aquele que realiza a acção (sujeito)
2. Segundo actante: é aquele que suporta a acção (complemento directo)
3. Terceiro actante: é aquele “em benefício ou em detrimento do qual se realiza a acção” (complemento indirecto)
Greimas
Transfere este conceito sintáctico (e também semântico) para a análise da estrutura narrativa. O autor confere-lhe uma relevância fundamental, concebendo os actantes como a instância superior que sintacticamente subordina os predicados (dinâmicos ou estáticos) e como as “unidades demânticas da armadura da narrativa”.
NÍVEL IMANENTE
“Um nível postulado como comportando estruturas virtuais e universais”. (pg. 689)
Nota: Os actantes, no seu percurso narrativo – uma seqüência hipotáxica ou um encadeamento lógico de programas narrativos -, podem agregar ao seu estatuto actancial (o que os define num dado momento) um número determinado de funções actanciais, definíveis tanto sintacticamente, em relação à posição do actante no percurso narrativo, como morfologicamente, em relação ao seu conteúdo modal.
MODALIDADES
querer-fazer
saber-fazer
poder-fazer
MODELO ACTANCIAL
diagrama Greimas
destinador objeto → destinatário
↑
↑
adjuvante sujeito→ opositor
Nesse esquema biplanar:
• o destinador: é aquele que “manda fazer”, que comunica ao sujeito “não só os elementos da competência modal, mas também o conjunto dos valores em jogo”
• o sujeito: é aquele que quer, que pretende o objeto (relação de desejo, manifestada por uma relação juntiva, pois que o sujeito e o objeto existem um para o outro) (pg. 690)
O ROMANCE: HISTÓRIA E SISTEMA DE UM GÉNERO LITERÁRIO
“Se o século XVII constitui a época áurea da moderna tragédia, o século XIX constitui inegavelmente o período mais esplendoroso da história do romance. Depois das fecundas experiências dos românticos, sucederam-se, durante toda a segunda metade do século XIX, as criações dos grandes mestres do romance europeu. Forma de arte já sazonada, dispondo de uma vasta audiência e disfrutando de um prestígio crescente, o romance domina a cena literária. Com Flaubert, Maupassant e Henry James, a composição do romance adquire uma mestria e um rigor desconhecidos até então; com Tostoj e Dostoiewskij, o universo romanesco alargou-se e enriqueceu-se com experiências humanas pertubantes pelo seu carácter abismal, estranho e demoníaco: com os realistas e naturalistas, em geral, a obra romanesca aspira à exactidão da monografia, de estudo científico dos temperamentos e dos meios sociais. Em vez dos heróis altivos e dominadores, relevantes quer no bem, quer no mal, tanto na alegria como na dor, característicos das narrativas românticas, aparecem nos romances realistas as personagens e os acontecimentos triviais e anódinos extraídos da baça e chata rotina da vida”.(PG. 683)
“Depois, no declinar do século XIX e nos primeiros anos do século XX: aparecem os roamances de análise psicológica de Marcel Proust e de Virginia Woolf; James Joyce cria os seus grandes roamnces de dimensões míticas, construídos em torno das recorrências dos arquétipos (Ulisses e Finnegans Wake); Kafka dá a conhecer os seus romances simbólicos e alegóricos. Renovam-se os temas, exploram-se profundamente as técnicasde narrar, de construir a intriga, de apresenatr as personagens. Sucedem-se o romance neo-realista, o romance existencialista, o neuveu roman . O roamance não cessa, enfim, de revestir novas formas e de exprimir novos conteúdos, numa singular manifestação da perene inquietude estética e espiritual do homem”.(pg. 684)
“Segundo alguns críticos, o romance actual, depois de tão profundas e numerosas metamorfoses e aventuras, sofre de uma insofismável crise, aproximando-se do seu declínio e esgotamento. Seja qual for o valor de tal profesia, um facto, porém, não importante do nosso tempo, pelas possibilidades expressivas que oferece ao autor e pela difusão e influência que alcança entre o público”.(pg. 684)
CLASSIFICAÇÃO TIPOLOGICA DO ROMANCE
WOLFGANG KAYSER
“Tomando em consideração o diverso tratamento que podem apresentar o evento, a personagem e o espaço, fundamentais elementos constitutivos do romance, estabelece a seguinte classificação tipológica:
a) Romance de acção ou de acontecimento: Romance caracterizado por uma intriga concentrada e fortemente desenhada, com princípio, meio e fim bem estruturados. A sucessão e o encadeamento das situações e dos episódios ocupam o primeiro plano, relegando para lugar muito secundário a análise psicológica das persoangens e a descrição dos meios. Os romances de Walter Scott e de Alexandre Dumas exemplificam este tipo de romance.
b) Romance de personagem: Romance caracterizado pela existência de uma única persoanagem central, que o autor desenha e estuda demoradamente e à qual obedece todo o desenvolvimento do romance. Trata-se, frequentemente, de um romance propenso para subjetivismo lírico e para o tom confessional, como sucede com o Werther de Goethe, o Adolphe de Bejamim Constant, o Raphael de Lamartine, etc. O título é, em geral, pois é constituído, com muita frequência, pelo próprio nome da personagem central.
c) Romance de espaço: Roamance que se caracteriza pela primazia que concede à pintura do meio histórico e dos ambientes sociais nos quais decorre a intriga. É o que se verifica nos romances de Balzac, de Zola, de Eça de Queirós, de Tolstoj, etc. Balzac, ao colocar a sua obra romanesca sob o título de genérico de Comédie humaine, revelou bem o seu desejo de oferecer um vasto quadro da sociedade do seu tempo. O meio descrito pode ainda ser geográfico ou telúrico, como sucede na Selva de Ferreira Castro ou nas Terras do demo de Aquino Ribeiro, embora este meio telúrico seja indissociável, na visão do romancista, do homem que nele se integra. O romance brasileiro, por exemplo, tende poderosamente para este tipo de romance.
Obs: “O valor é aceitável, se não lhe conferirmos um valor absoluto e de rigidez extrema. Com efeito, é impossível encontrar um roamnce concreto que realiza de modo puro cada uma das modalidades tipológicas estabelecidas por Wolfgang Kayser, acontecendo também que muitos romances, pela sua riqueza e pela sua complexidade, dificilmente podem ser integrados nesta ou naquela classe.(pg. 686)
A PERSONAGEM
“A personagem constitui um elemento estrutural indispensável da narrativa romanesca. Sem personagem, ou pelo menos sem agente, como observa Roland Bathes, Não esiste verdadeiramente narrativa, pois a função e o significado das acções ocorrentes numa sintagmática narrativa dependem primordialmente da atribuição ou da referência dessas acções a uma personagem ou a um agente”. (pg. 687)
ÓPTICA FUNCIONALISTA
Greimas
“substitui o conceito de personagem pelo termo termo de actante”. (pg. 687)
personagem > actante
Sémantique struturale
Este termo e esse conceito têm origem lingüística, derivando da sintaxe estrutural de LUCIEN TESNIÈRE.
“O núcleo verbal, afirma Tesnière, exprime “um pequeno drama” que comporta sempre um processo, actantes e circunstâncias”.
EXPLICAÇÃO
“Transpondo estes conceitos para o plano da sintaxe estrutural, teremos respectivamente o verbo, os actantes e os circunstânciais.
• Actantes: são sempre substantivos ou equivalentes de substantivos, são subordinados imediatos do verbo e podem classificar-se em “primeiro actante”, “segundo actante” e t”erceiro actante”.
1. Primeiro actante: é aquele que realiza a acção (sujeito)
2. Segundo actante: é aquele que suporta a acção (complemento directo)
3. Terceiro actante: é aquele “em benefício ou em detrimento do qual se realiza a acção” (complemento indirecto)
Greimas
Transfere este conceito sintáctico (e também semântico) para a análise da estrutura narrativa. O autor confere-lhe uma relevância fundamental, concebendo os actantes como a instância superior que sintacticamente subordina os predicados (dinâmicos ou estáticos) e como as “unidades demânticas da armadura da narrativa”.
NÍVEL IMANENTE
“Um nível postulado como comportando estruturas virtuais e universais”. (pg. 689)
Nota: Os actantes, no seu percurso narrativo – uma seqüência hipotáxica ou um encadeamento lógico de programas narrativos -, podem agregar ao seu estatuto actancial (o que os define num dado momento) um número determinado de funções actanciais, definíveis tanto sintacticamente, em relação à posição do actante no percurso narrativo, como morfologicamente, em relação ao seu conteúdo modal.
MODALIDADES
querer-fazer
saber-fazer
poder-fazer
MODELO ACTANCIAL
diagrama Greimas
destinador objeto → destinatário
↑
↑
adjuvante sujeito→ opositor
Nesse esquema biplanar:
• o destinador: é aquele que “manda fazer”, que comunica ao sujeito “não só os elementos da competência modal, mas também o conjunto dos valores em jogo”
• o sujeito: é aquele que quer, que pretende o objeto (relação de desejo, manifestada por uma relação juntiva, pois que o sujeito e o objeto existem um para o outro) (pg. 690)
quinta-feira, 31 de março de 2011
ARTE: BARROCO
BARROCO
A arte barroca originou-se na Itália (séc. XVII) mas não tardou a irradiar-se por outros países da Europa e a chegar também ao continente americano, trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis.
As obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuram realizar de forma muito consciente; na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista.
É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas: bem e mal; Deus e Diabo; céu e terra; pureza e pecado; alegria e tristeza; paganismo e cristianismo; espírito e matéria.
A expressão artística está presente na arquitetura, pintura, poesia, mobiliário.
Suas características gerais são:
* emocional sobre o racional; seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção e não apenas pelo raciocínio.
* busca de efeitos decorativos e visuais, através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas;
* entrelaçamento entre a arquitetura e escultura;
* violentos contrastes de luz e sombra;
* pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu, tal a aparência de profundidade conseguida.
A arte Barroca tem em suas linhas curvas e sua simbologia de espiral um caminha para o ceú. As pinturas predominam imagem do cotidiano.
A arte barroca originou-se na Itália (séc. XVII) mas não tardou a irradiar-se por outros países da Europa e a chegar também ao continente americano, trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis.
As obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuram realizar de forma muito consciente; na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista.
É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas: bem e mal; Deus e Diabo; céu e terra; pureza e pecado; alegria e tristeza; paganismo e cristianismo; espírito e matéria.
A expressão artística está presente na arquitetura, pintura, poesia, mobiliário.
Suas características gerais são:
* emocional sobre o racional; seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção e não apenas pelo raciocínio.
* busca de efeitos decorativos e visuais, através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas;
* entrelaçamento entre a arquitetura e escultura;
* violentos contrastes de luz e sombra;
* pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu, tal a aparência de profundidade conseguida.
A arte Barroca tem em suas linhas curvas e sua simbologia de espiral um caminha para o ceú. As pinturas predominam imagem do cotidiano.
terça-feira, 8 de março de 2011
RECORTE PCN: Tema transversal; pluralidade cultural
Linguagens e representações
Trata-se, aqui, de trabalhar diferentes linguagens que ampliam as possibilidades de expressão para além da verbal, forma predominante de comunicação na maioria das sociedades. Integrada aos conhecimentos antropológicos, permitirá o entendimento da importância de diferentes códigos lingüísticos, de diferentes manifestações culturais e sua compreensão no campo educacional, como fator de integração e expressão do aluno, respeitando suas origens.
Tratando especificamente da temática das línguas, abrem-se muitas possibilidades de
transversalização com Língua Portuguesa, por exemplo, pela valorização de diferentes formas de linguagem oral e escrita, pelo respeito às manifestações regionais, pela possibilidade de contato e integração com a diversidade de línguas e de linguagens presentes na vida de crianças e adolescentes no Brasil.
Conhecer a existência do uso de outras línguas diferentes da Língua Portuguesa, idioma oficial, significa não só ampliação de horizontes, como também compreensão da complexidade do País. A escola tem a possibilidade de trabalhar com esse panorama rico e complexo, referindo-se à existência, estrutura e uso dessas centenas de línguas. Pode, com isso, promover não só a reflexão metalingüística, como também a compreensão de como se constituem identidades e singularidades de diferentes povos e etnias.
Saber da existência de diferentes formas de bilingüismos e multilingüismos, presentes em diferentes regiões — assim como ver-se reconhecida e presente neste tema transversal, aberto às suas próprias singularidades regionais, étnicas e culturais — será extremamente relevante na construção desse conhecimento e na valorização do que é a pluralidade cultural brasileira. São exemplos de tais bilingüismos e multilingüismos as vivências de escolas indígenas, escolas de regiões
de fronteiras geopolíticas do Brasil, escolas vinculadas a grupos étnicos, existentes em particular em grandes centros urbanos, regionalismos na fala cotidiana de tantas escolas espalhadas pelo País.
Por outro lado, o desenvolvimento de outras linguagens será muito importante, permitindo transversalizar, em particular, com Educação Física e Arte. A música, a dança, as artes em geral, vinculadas aos diferentes grupos étnicos e a composições regionais típicas, são manifestações culturais que a criança e o adolescente poderão conhecer e vivenciar. Dessa forma enriquecerão seu conhecimento sobre a diversidade presente no Brasil, enquanto desenvolvem seu próprio potencial expressivo.
Trata-se, aqui, de trabalhar diferentes linguagens que ampliam as possibilidades de expressão para além da verbal, forma predominante de comunicação na maioria das sociedades. Integrada aos conhecimentos antropológicos, permitirá o entendimento da importância de diferentes códigos lingüísticos, de diferentes manifestações culturais e sua compreensão no campo educacional, como fator de integração e expressão do aluno, respeitando suas origens.
Tratando especificamente da temática das línguas, abrem-se muitas possibilidades de
transversalização com Língua Portuguesa, por exemplo, pela valorização de diferentes formas de linguagem oral e escrita, pelo respeito às manifestações regionais, pela possibilidade de contato e integração com a diversidade de línguas e de linguagens presentes na vida de crianças e adolescentes no Brasil.
Conhecer a existência do uso de outras línguas diferentes da Língua Portuguesa, idioma oficial, significa não só ampliação de horizontes, como também compreensão da complexidade do País. A escola tem a possibilidade de trabalhar com esse panorama rico e complexo, referindo-se à existência, estrutura e uso dessas centenas de línguas. Pode, com isso, promover não só a reflexão metalingüística, como também a compreensão de como se constituem identidades e singularidades de diferentes povos e etnias.
Saber da existência de diferentes formas de bilingüismos e multilingüismos, presentes em diferentes regiões — assim como ver-se reconhecida e presente neste tema transversal, aberto às suas próprias singularidades regionais, étnicas e culturais — será extremamente relevante na construção desse conhecimento e na valorização do que é a pluralidade cultural brasileira. São exemplos de tais bilingüismos e multilingüismos as vivências de escolas indígenas, escolas de regiões
de fronteiras geopolíticas do Brasil, escolas vinculadas a grupos étnicos, existentes em particular em grandes centros urbanos, regionalismos na fala cotidiana de tantas escolas espalhadas pelo País.
Por outro lado, o desenvolvimento de outras linguagens será muito importante, permitindo transversalizar, em particular, com Educação Física e Arte. A música, a dança, as artes em geral, vinculadas aos diferentes grupos étnicos e a composições regionais típicas, são manifestações culturais que a criança e o adolescente poderão conhecer e vivenciar. Dessa forma enriquecerão seu conhecimento sobre a diversidade presente no Brasil, enquanto desenvolvem seu próprio potencial expressivo.
sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011
FICHAMENTO: CONTRERAS, José. A autonomia de professores, ed Cortex; São Paulo, tradução Sandra Trabucco Velenzuela; 2002
1- Debate sobre a proletarização do professaor
Defina o fenômeno que passou a ser chamado de processo de proletarização do professor?
R: O fenômeno de proletarização do professor está inserido nos debates no seio da comunidade educativa, e consiste na deteriorização das condições de trabalho nas quais o professor esperava alcançar status. Essa tese básica da proletarização do professor, é sustentada por CONTRERAS, que define como “o trabalho docente sofreu uma subtração progressiva de uma série de qualidades que conduziram os professores à perda de controle e sentido sobre o próprio trabalho, ou seja, à perda de autonomia. Como tenta mostrar em seu livro, o que está em jogo na perda de autonomia dos professores é tanto o controle técnico ao qual possam estar submetidos como a desorientação ideológica à qual possam se ver mergulhados”. (pg. 33)
CRÍTICA AO MODELO CAPITALISTA
JIMÉNEZ JAÉN (1988)
“tem como base teórica a análise marxista das condições de trabalho do modo de produção capitalista e o desenvolvimento e aplicação dessas propostas realizadas por BRAVERMAN (1974). A partir sobretudo do trabalho deste autor, foi analisada a lógica racionalizadora das empresas e da produção em geral. Com o objetivo de garantir o controle sobre o processo produtivo, este era subdividido em processos cada vez mais simples, de maneira que os operários eram especializados em aspectos cada vez mais reduzidos da cadeia produtiva, perdendo deste modo a perspectiva de conjunto, bem como a destrezas que anteriormente necessitavam para o trabalho”. (pg. 34)
O TAYLORISMO
O taylorismo toma seu nome da obra de Taylor (1911), The principles and methods of scientific management, A “gestão científica do trabalho” consiste na decomposição do mesmo em tarefas e rotinas mínimas, com a especificação de ações e medidas de tempo de execução para cada uma delas e com a atribuição da organização “científica” no trabalho supõe o surgimento de novas figuras na hierarquia da organização, em especial a dos gestores científicos, que planejam o trabalho, e o dos inspetores ou supervisores, que verificam o enquadre dos funcionários às especificações de tarefas e tempo de execução. O taylorismo supunha a aplicação à empresa dos valores e práticas reinantes na ciência daquela época: a fragmentação e a atomização (a decomposição de qualquer processo ou fenômeno em suas partes mais elementares), a medição e controle sobre os fenômenos (neste caso, um fenômeno social como é a organização do trabalho). Uma análise recente do fenômeno do taylorismo pode ser encontrada em Allen et al (1992); Salaman (1992). Para sua incidência na educação, ver Ângulo (1989); Varela (1982)
(pg. 34)
NOTA: na situação de dificuldade o professor deve encontrar:
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS
AS ARMADILHAS DA PROFISSIONALISMO
SMYTH(1991)
l explica a forma em que o profissionalismo dos professores está-se redefinindo como fator de legitimação nas novas políticas de reformas, as quais se caracterizam por uma combinação:
decisões centralizadas + metas curriculares claramente
definidas e fixadas pelo Estado
pg. 66
OBS: A participação se constrói como um requisito do profissionalismo responsável, de modo que, não colaborar, seria uma falta de profissionalismo.
as formas de controle, passam:
diretas participativas
A responsabilidade profissional deixa de ser um ato individual e isolado na sala de aula, para passar a ser coletivo e sobre anatuação pedagógica de todo o centro.
Em resumo: a Administração define o âmbito curricular, fixa os procedimentos de colaboração e atuação nos centros, organiza a seqüência de ação e prestação de contas, e os docentes desenvolvem profissionalmente o trabalho (Smyth, 1991) (pg. 67)
Colegialização artificial
-HARGREAVES e DAVES
A profissionalização atua como modo de garantir a colaboração sem discutir os limites de atuação.
Conclusão
se nos fixarmos mais no que o trabalho do professor tem de educativo do que no que ele teria de “profissão” (como o conjunto de características sociologicamente definidas em certas ocupações, ou como estratégias corporativista das mesmas). Neste sentido, estaríamos tentando definir a autonomia como qualidade educativo, e não como qualidade profissional, do trabalho docente. (pg. 70)
CAPITULO III
Como explicou GIMENO (1990), a atuação docente não é um assunto de decisão unilateral do professor ou professora, tão-somente, não se pode entender o ensino atendendo apenas os fatores visíveis em sala de aula. O ensino é um jogo de “práticas aninhadas”, onde fatores históricos, culturais, sociais, institucionais e trabalhistas tomam parte, junto com os individuais. Deste ponto de vista, os docentes são simultaneamente veículo através dos quais se concretizam os influxos que geram todos estes fatores, e criadores de respostas mais ou menos adaptativas ou críticas a esses mesmos fatores. (pg. 75)
Três dimensões da profissionalidade:
a) a obrigação moral
b) o comportamento com a comunidade
c) a competência profissional
A) a obrigação moral
O PROFESSOR
esta comprometido com todos os seus alunos e alunas em seu desenvolvimento como pessoas, mesmo sabendo que isso costuma causar tensões e dilemas: é preciso atender o avanço na aprendizagem de seus alunos, enquanto que não se pode esquecer das necessidades e do reconhecimento do valor que, como pessoas, lhe merece todo o alunado. (pg. 76)
TOM (1984)
Justificou também o ensino como um trabalho moral, baseando-se em dois motivos:
A) Atua-se em relação de desigualdade com os alunos, a qual apenas se sustenta porque se confia em que essa desigualdade não será usada contra a parte mais fraca da relação, mas, ao contrário, para que possam desenvolver recursos e capacidades que os tornem independentes.
B) Pretendem-se coisas que só adquirem sentido a partir de uma perspectiva moral: exerce-se influência sobre outros, pretende-se ensinar coisas que só podem ser justificadas por seu desejo, por seu valor. (pg. 77)
LABARECE (1992)
Concepções profissionais:
professores ------------ professoras
racionalismo cuidado
centrados na tarefa apoio emocional
abstração do conteúdo centrado na pessoa
enfocado no contexto
CITO POR FIM: kante e sua razão pura
"Saber aquilo que racionalmente se deve indagar, já por si prova exuberância de
entendimento e sabedoria; porque se a pergunta é absurda em si e requer respostas ociosas, não só desonra a quem a formula, como produz o inconve niente de precipitar no absurdo ao que sem pensar responde e dá deste modo o triste espetáculo de duas pessoas que, como dizem os antigos, um ordenha enquanto o outro segura a vasilha".
Defina o fenômeno que passou a ser chamado de processo de proletarização do professor?
R: O fenômeno de proletarização do professor está inserido nos debates no seio da comunidade educativa, e consiste na deteriorização das condições de trabalho nas quais o professor esperava alcançar status. Essa tese básica da proletarização do professor, é sustentada por CONTRERAS, que define como “o trabalho docente sofreu uma subtração progressiva de uma série de qualidades que conduziram os professores à perda de controle e sentido sobre o próprio trabalho, ou seja, à perda de autonomia. Como tenta mostrar em seu livro, o que está em jogo na perda de autonomia dos professores é tanto o controle técnico ao qual possam estar submetidos como a desorientação ideológica à qual possam se ver mergulhados”. (pg. 33)
CRÍTICA AO MODELO CAPITALISTA
JIMÉNEZ JAÉN (1988)
“tem como base teórica a análise marxista das condições de trabalho do modo de produção capitalista e o desenvolvimento e aplicação dessas propostas realizadas por BRAVERMAN (1974). A partir sobretudo do trabalho deste autor, foi analisada a lógica racionalizadora das empresas e da produção em geral. Com o objetivo de garantir o controle sobre o processo produtivo, este era subdividido em processos cada vez mais simples, de maneira que os operários eram especializados em aspectos cada vez mais reduzidos da cadeia produtiva, perdendo deste modo a perspectiva de conjunto, bem como a destrezas que anteriormente necessitavam para o trabalho”. (pg. 34)
O TAYLORISMO
O taylorismo toma seu nome da obra de Taylor (1911), The principles and methods of scientific management, A “gestão científica do trabalho” consiste na decomposição do mesmo em tarefas e rotinas mínimas, com a especificação de ações e medidas de tempo de execução para cada uma delas e com a atribuição da organização “científica” no trabalho supõe o surgimento de novas figuras na hierarquia da organização, em especial a dos gestores científicos, que planejam o trabalho, e o dos inspetores ou supervisores, que verificam o enquadre dos funcionários às especificações de tarefas e tempo de execução. O taylorismo supunha a aplicação à empresa dos valores e práticas reinantes na ciência daquela época: a fragmentação e a atomização (a decomposição de qualquer processo ou fenômeno em suas partes mais elementares), a medição e controle sobre os fenômenos (neste caso, um fenômeno social como é a organização do trabalho). Uma análise recente do fenômeno do taylorismo pode ser encontrada em Allen et al (1992); Salaman (1992). Para sua incidência na educação, ver Ângulo (1989); Varela (1982)
(pg. 34)
NOTA: na situação de dificuldade o professor deve encontrar:
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS
AS ARMADILHAS DA PROFISSIONALISMO
SMYTH(1991)
l explica a forma em que o profissionalismo dos professores está-se redefinindo como fator de legitimação nas novas políticas de reformas, as quais se caracterizam por uma combinação:
decisões centralizadas + metas curriculares claramente
definidas e fixadas pelo Estado
pg. 66
OBS: A participação se constrói como um requisito do profissionalismo responsável, de modo que, não colaborar, seria uma falta de profissionalismo.
as formas de controle, passam:
diretas participativas
A responsabilidade profissional deixa de ser um ato individual e isolado na sala de aula, para passar a ser coletivo e sobre anatuação pedagógica de todo o centro.
Em resumo: a Administração define o âmbito curricular, fixa os procedimentos de colaboração e atuação nos centros, organiza a seqüência de ação e prestação de contas, e os docentes desenvolvem profissionalmente o trabalho (Smyth, 1991) (pg. 67)
Colegialização artificial
-HARGREAVES e DAVES
A profissionalização atua como modo de garantir a colaboração sem discutir os limites de atuação.
Conclusão
se nos fixarmos mais no que o trabalho do professor tem de educativo do que no que ele teria de “profissão” (como o conjunto de características sociologicamente definidas em certas ocupações, ou como estratégias corporativista das mesmas). Neste sentido, estaríamos tentando definir a autonomia como qualidade educativo, e não como qualidade profissional, do trabalho docente. (pg. 70)
CAPITULO III
Como explicou GIMENO (1990), a atuação docente não é um assunto de decisão unilateral do professor ou professora, tão-somente, não se pode entender o ensino atendendo apenas os fatores visíveis em sala de aula. O ensino é um jogo de “práticas aninhadas”, onde fatores históricos, culturais, sociais, institucionais e trabalhistas tomam parte, junto com os individuais. Deste ponto de vista, os docentes são simultaneamente veículo através dos quais se concretizam os influxos que geram todos estes fatores, e criadores de respostas mais ou menos adaptativas ou críticas a esses mesmos fatores. (pg. 75)
Três dimensões da profissionalidade:
a) a obrigação moral
b) o comportamento com a comunidade
c) a competência profissional
A) a obrigação moral
O PROFESSOR
esta comprometido com todos os seus alunos e alunas em seu desenvolvimento como pessoas, mesmo sabendo que isso costuma causar tensões e dilemas: é preciso atender o avanço na aprendizagem de seus alunos, enquanto que não se pode esquecer das necessidades e do reconhecimento do valor que, como pessoas, lhe merece todo o alunado. (pg. 76)
TOM (1984)
Justificou também o ensino como um trabalho moral, baseando-se em dois motivos:
A) Atua-se em relação de desigualdade com os alunos, a qual apenas se sustenta porque se confia em que essa desigualdade não será usada contra a parte mais fraca da relação, mas, ao contrário, para que possam desenvolver recursos e capacidades que os tornem independentes.
B) Pretendem-se coisas que só adquirem sentido a partir de uma perspectiva moral: exerce-se influência sobre outros, pretende-se ensinar coisas que só podem ser justificadas por seu desejo, por seu valor. (pg. 77)
LABARECE (1992)
Concepções profissionais:
professores ------------ professoras
racionalismo cuidado
centrados na tarefa apoio emocional
abstração do conteúdo centrado na pessoa
enfocado no contexto
CITO POR FIM: kante e sua razão pura
"Saber aquilo que racionalmente se deve indagar, já por si prova exuberância de
entendimento e sabedoria; porque se a pergunta é absurda em si e requer respostas ociosas, não só desonra a quem a formula, como produz o inconve niente de precipitar no absurdo ao que sem pensar responde e dá deste modo o triste espetáculo de duas pessoas que, como dizem os antigos, um ordenha enquanto o outro segura a vasilha".
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011
sábado, 22 de janeiro de 2011
Saiba como funciona

Saiba como funciona e como deve ser distibuido o FUNDEB. CLIQUE AQUI
Fonte: Revista Escola; editora abril, Brasil
LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
terça-feira, 18 de janeiro de 2011
Assinar:
Comentários (Atom)
Pesquisar este blog
-
Neste ensaio devo esclarecer que a análise do conto, de Danton Travisan, “Uma vela para Dário”, será feita pelo víeis da psicologia, mas esp...
-
O vestibulando deve compreender que o texto em prosa discursivo dissertativo tem origem do gênero grego-romano Retórico ou Eloquente e seu e...
Translate
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Livro publicado

Livro infantil.
encontro
Caminhando pensei em minha esposa que mesmo tendo lhe agraciado com tudo do mundo. Ela me responderia: - Tem mais alguma coisa, além disso.
Universidade do Estado do Pará - UEPA
Índia

Raquel Quaresma