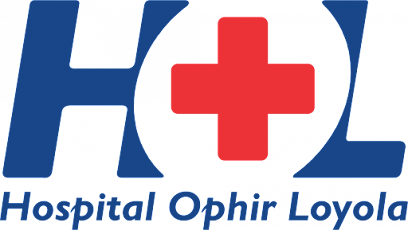quarta-feira, 11 de dezembro de 2013
FICHAMENTO: KEPFER, Maria Cristina. Freud e a Educação: o mestre o impossível, ed. Scipione, 1989.
TRANSFERIR
Transferir é então atribuir um sentido especial àquele figura determinada pelo desejo. (pg. 91)
Obs: “Instalada a transferência, tanto o analista como o professor tornam-se depositários de algo que pertence ao analisando ou ao aluno. Em decorrência dessa “posse”, tais figuras ficam inevitavelmente carregadas de uma importância especial. E é dessa importância que emana o poder que inegavelmente têm sobre o indivíduo. Assim, em razão dessa transferência de sentido operada pelo desejo, ocorre também uma transferência de poder. Já veremos em detalhes o que isso significa para um professor”. (pg. 91)
Uma outra conseqüência: se o analisando ou o aluno dirigem-se ao analista ou professor atribuindo-lhe um sentido conferido pelo desejo, então essas figuras passarão a fazer parte de seu cenário inconsciente. Isso significa que o analista ou o professor, colhidos pela transferência, não são exteriores ao inconsciente do sujeito, mas o que quer que digam será escutado a partir desse lugar onde estão colocados. Sua fala deixa de ser inteiramente objetiva, mas é escutada através dessa especial posição que ocupa no inconsciente do sujeito.
Isso explica, em parte, o fato de haver professores que nada parecem ter de especial, mas que, na realidade, marcam o percurso intelectual de alguns alunos. Quando vezes não ouvimos dizer que alguém optou por ser geógrafo porque teve, no ginásio, um professor que despertou seu gosto por essa matéria! Não era nenhum grande teórico do assunto, tanto que só aquele aluno se interessou pela Geografia. A idéia de transferência mostra que aquele professor em especial foi “investido” pelo desejo daquele aluno. E foi a partir desse “investimento” que a palavra do professor ganhou poder, passando a ser escutada!
QUESTIONAMENTO
O desejo transfere sentido e poder à figura do professor, que funciona como um mero suporte esvaziando de seu sentido próprio enquanto pessoa.
1. Mas, que sentido esse desejo transfere?
2. Como é que, em última análise, esse professor está sendo visto, já que é essa visão especial a mola propulsora do aprender?
IMPORTANTE
Ocupar o lugar designado ao professor pela transferência: eis uma tarefa que não deixa de ser incômoda, visto que ali seu sentido enquanto pessoa é “esvaziado” para dar lugar a um outro que ele desconhece.
O PROFESSOR NO LUGAR DE TRANSFERÊNCIA
Se fosse o caso de seguir estritamente as idéias acima, bastaria dizer que cabe ao professor renunciar a um modelo determinado por ele próprio; aceitar o modelo que lhe oferece o aluno; suportar a importância daí emanada e conduzir seu aluno em direção à superação dessa importância; eclipsar-se para permitir que esse aluno siga seu curso, assim como o fizeram os pais desse aluno.
O PROBLEMA DO MAL USO DO PODER PELO PROFESSOR
O problema é que, com esse poder em mãos, não é fácil usá-lo para libertar um “escravo” que se escravizou por livre e espontânea “vontade”. A História mostra que a tentação de abusar do poder é muito grande. No caso do professor, abusar do poder seria equivalente a usá-lo para subjugar o aluno, impor-lhe seus próprios valores e idéias. Em outras palavras, impor seu próprio desejo, fazendo-o sobrepor-se àquela que movia seu aluno a colocá-lo em destaque
O RELA POSICIONAMENTO DO PROFESSOR
Cedendo a essa tentação, cessa o poder desejante do aluno. O professor entenderá sua tarefa como uma contribuição à formação de um ideal que tem uma função reguladora, normatizante, e fundará aí sua autoridade. Sua missão será submeter seu aluno a essa figura de mestre. Nesse caso, a Educação fica subordinada à imagem de um ideal estabelecido logo de início pelo pedagogo e que, simultaneamente, proíbe qualquer contestação de um ideal estabelecido logo de início pelo pedagogo e que, simultaneamente, proíbe qualquer contestação desse ideal.
FUNÇÃO DO PEDAGOGO
O que o pedagogo faz é pedir à criança que venha tão somente dar fundamento a uma doutrina previamente concebida. Aqui, o aluno poderá aprender conteúdos, gravar informações, espelhar fielmente o conhecimento do professor, mas provavelmente não sairá dessa relação como sujeito pensante.
DESVIO DE ENTENDIMENTO
Acharão alguns ser pedir demais ao professor que compareça à relação com seu desejo anulado, como pessoa esvaziada, como uma simples marionete cujas cordas o aluno fará brandir a seu bel-prazer?
POSIÇÃO DO PROFESSOR
O professor é também um sujeito marcado por seu próprio desejo inconsciente. Aliás, é exatamente esse desejo que impulsiona para a função de mestre. Por isso, o jogo todo é muito complicado. Só o desejo do professor justifica que ele esteja ali. Mas estando ali ele precisa renunciar a esse desejo. (pg. 94)
Biblioteca Universidade do Estado do Pará – Campus I
CONTO: UM ANJO
Conta a lenda do anjo que resolveu ir ao subsolo da metrópole para ver a cobra de ferro que transportava centenas de pessoas ao mesmo tempo em seu bojo. Tinha acabado de acompanhar um casal com destino ao Museu da Língua Portuguesa, depois passando pela escadaria que dava acesso ao metrô não resistiu a descer. Estando ele no subsolo da metrópoles foi andando e atravessou o obstáculo da roleta, quando na plataforma começou a ouvir um zunido que vinha da escuridão do túnel. O som aumentava conforme ela se aproximava. Subitamente viu os dois olhos da dita vindo da escuridão do túnel em sua direção. Demoro segundos estava na sua frente. O susto foi tamanho exclamou: -É uma minhoca! É uma minhoca! Parou em sua frente e as portas se abriram, viu as pessoas entrando e outras saindo, deixou-se levar para dentro. Fecharam-se as portas e a minhoca começou a se movimentar, mergulhando no túnel. Nesse momento lembrou-se de quando o dito cujo, fora expulso do céu, mandado por Deus para o Mundo. Saiu entonando um som dolorido, parecia-lhe o que começava a ouvir no interior da minhoca.
Antes de chegar no final do túnel uma foz anunciou “saída pela esquerda”, olhou para os lados, pensava ter só ele ouvido, seria o senhor chamando sua atenção, imediatamente põe-se de joelho e começou a pedir; -Perdão! Perdão! Depois de minutos a minhoca saiu do túnel e começou a para, depois de para abriram-se as portas e começaram as pessoas a descer na estação. Foi quando põe-se de pé, exclamando: Obrigado! Obrigado, meu pai! Logo que saiu da minhoca e caminhou até as escadarias subindo-a, saindo no meio da avenida Paulista, onde encontra-se o centro financeiro do país, onde centenas de pessoas transitavam frenéticas em busca de um sonho.
Entrou no fluxo dos transeuntes em atropelo, quando derrepente entrou num turbilhão que o fez rodopiar, prosseguindo com dificuldade olhou tratava-se de um círculo no centro o porque: Um senhor de bastante idade a caminhar vagarosamente um passo após o outro, com sua bengala a frente, tá...tá...tá..., vestia-se com uma elegância nobre, lindo, que senhor lindo no meio dos transeuntes frenéticos que passavam a mil pelo seu lado, zummmmmm..., sem tocá-lo, viu nesse momento um anjo.
quinta-feira, 5 de dezembro de 2013
O INTERESSE EDUCACIONAL DA PSICANÁLISE: Segundo Freud
O interesse dominante que tem a psicanálise para a teoria da educação baseia-se num ato que se tornou evidente. Somente alguém que possa sondar as mentes das crianças será capaz de educá-las e nós, pessoas adultas, não podemos entender as crianças porque não mais entendemos a nossa própria infância. Nossa amnésia infantil prova que nos tornamos estranhos à nossa infância. A psicanálise trouxe à luz os desejos, as estruturas de pensamento e os processos de desenvolvimento da infância. Todos os esforços anteriores nesse sentido foram, no mais alto grau, incompletos e enganadores por menosprezarem inteiramente o fator inestimavelmente importante da sexualidade em suas manifestações físicas e mentais. O espanto incrédulo com que se defrontam as descobertas estabelecidas com maior grau de certeza pela psicanálise sobre o tema da infância - o complexo de Édipo, o amor a si próprio (ou ‘narcisismo’), a disposição para as perversões, o erotismo anal, a curiosidade sexual - é uma medida do abismo que separa nossa vida mental, nossos juízos de valor e, na verdade, nossos processos de pensamento daqueles encontrados mesmo em crianças normais.
Quando os educadores se familiarizarem com as descobertas da psicanálise, será mais fácil se reconciliarem com certas fases do desenvolvimento infantil e, entre outras coisas, não correrão o risco de superestimar a importância dos impulsos instintivos socialmente imprestáveis ou perversos que surgem nas crianças. Pelo contrário, vão se abster de qualquer tentativa de suprimir esses impulsos pela força, quando aprenderem que esforços desse tipo com freqüência produzem resultados não menos indesejáveis que a alternativa, tão temida pelos educadores, de dar livre trânsito às travessuras das crianças. A supressão forçada de fortes instintos por meios externos nunca produz, numa criança, o efeito de esses instintos se extinguirem ou ficarem sob controle; conduz à repressão, que cria uma predisposição a doenças nervosas no futuro. A psicanálise tem freqüentes oportunidades de observar o papel desempenhado pela severidade inoportuna e sem discernimento da educação na produção de neuroses, ou o preço, em perda de eficiência e capacidade de prazer, que tem de ser pago pela normalidade na qual o educador insiste. E a psicanálise pode também demonstrar que preciosas contribuições para a formação do caráter são realizadas por esses instintos associais e perversos na criança, se não forem submetidos à repressão, e sim desviados de seus objetivos originais para outros mais valiosos, através do processo conhecido como ‘sublimação’. Nossas mais elevadas virtudes desenvolveram-se, como formações reativas e sublimações, de nossas piores disposições. A educação deve escrupulosamente abster-se de soterrar essas preciosas fontes de ação e restringir-se a incentivar os processos pelos quais essas energias são conduzidas ao longo de trilhas seguras. Tudo o que podemos esperar a título de profilaxia das neuroses no indivíduo se encontra nas mãos de uma educação psicanaliticamente esclarecida.
Não foi meu objetivo neste artigo colocar ante um público cientificamente orientado uma descrição do alcance e do conteúdo da psicanálise ou de suas hipóteses, problemas e descobertas. Meu objetivo terá sido atingido se eu tiver deixado claras as muitas esferas de conhecimento em que a psicanálise é de interesse e os numerosos vínculos que começou a forjar entre elas.
sábado, 9 de novembro de 2013
PSICANÁLISE E LITERATURA: Uma análise possível do conto “O Enfermeiro”, de Machado de Assis.
Um estudo da personagem
A tarefa desse artigo é descobrir o que está oculto nas entrelinhas da declaração do criminoso, ao passo que nesse trabalho possa o leitor sentir-se satisfeito pelo real motivo que levaram Machado a escrever esse conto não para mostrar a injustiça, mas para apresentar a mente de um criminoso e como ela se comporta em vigília a partir da construção ficcional de um criminoso que nega ser o culpado de sua transgressão, ao mesmo tempo revela seu sentimento de culpa. No primeiro momento deste artigo será feita a aproxima da Literatura e a Psicanálise, para no segundo momento apresentarmos a análise do conto “O Enfermeiro”, de Machado de Assis, e discutir sobre o fatalismo da vida do personagem principal e narrador Procópio.
Aproximar a Literatura da Psicanálise visa à possibilidade de transmissão desta por meio de uma análise interpretativa do conto psicológico. Essa relação passa necessariamente, pelo enfoque analíticos do texto literário, pois também a Psicanálise trabalha com o verbal via interpretação, entretanto esse verbal pela Psicanálise Clínica é interpretado por meio da expressão na linguagem oral do paciente, enquanto na Crítica Psicanalítica é o texto que é interpretado como expressão escrita do personagem. .
A interpretação de textos literários foi uma das atividades de análise, exercidas por Sigmund Freud, considerado o teórico maior da Psicanálise devido à publicação em 1900, da obra “Interpretação de Sonhos”. Ele declarou que embora não fosse um conhecedor de arte, mas um leigo no assunto, que as obras de arte sempre exerceram sobre ele um efeito poderoso, sobretudo a Literatura e a escultura e, menos frequentemente, a pintura. Passava longo tempo contemplando-as, tentando apreendê-las à sua maneira e explicar a razão de seu efeito sobre si mesmo e sobre outras pessoas.
Freud dirige sua análise para a intenção do artista, expressada na obra, não para compreendê-la intelectualmente, mas para despertar em nós a mesma “constelação mental” que no artista produziu ímpeto de criar. Ele descobriu na literatura muitos “insights” que anteciparam e corroboraram os seus próprios, exemplo são os estudos das obras “Os irmãos Karamazov”, de Dostoievski, em “Hamlet”, no Neveu de Romeu, de Diderot, em Goethe. Ele pensava no autor como um neurótico obstinado que, pelo seu trabalho criativo, esquivava-se a um colapso, mas também a qualquer cura real. Isto é, o poeta é alguém que sonha acordado e é validado socialmente. Em vez de tentar alterar esse caráter, ele perpetua e publica as suas fantasias.
Todavia, a aproximação da Literatura e da Psicanálise pela Critica Psicanalítica atualmente não visa o estudo do processo criador, que caberia a Critica Genética . A Crítica Psicanálistica, o que se pretende é buscar no personagem suas manifestações patológicas, deixando de lado a psicologia do escritor, para assim encontrar o inconsciente do personagem psicológico e para tanto e necessário que o método psicológico de Freud que consiste na análise interpretativa de algumas formações de tipo especial como a neurose obsessiva e a psicose, que se permitem reduzir às suas raízes inconscientes.
Nesse sentido, a finalidade da Crítica Psicanálistica é possibilitar que se compreenda a personagem psicológica do texto narrativo em primeira pessoa e seu conflito interior. Para isso é necessário aproximar o discurso da Psicanálise com o textos narrativos, de ordem literária. Porque a Literatura tem seus estudos voltados para a linguagem e sua estrutura, enquanto forma de expressão das imagens verbais, destacando-se nesse sentido a forma. Esses estudos são dirigidos à identificação, na obra literária, de aspectos narrativos, ou seja, a posição do narrador no contexto literário no qual se insere, surgindo o conceito de personagem identificado pela linguagem verbal do discurso. Essa visão, porém, mudou muito dado o desenvolvimento da Literatura em seu plano discursivo, em que o personagem moderno, além de narrar os fatos, protagoniza e pensa em sua condição social enquanto sujeito social da narrativa. Daí, portanto, a possibilidade de estudo psicológico do personagem.
O estudo literário, a partir da Crítica Psicanalítica admitiu nesse sentido o caráter não apenas formal da linguagem, mas também a constituição psicológica, em que o conteúdo da obra foi valorizado e a personagem passa a ser interpretada não somente por sua posição enquanto agente social, mas também em relação do seu comportamento e sua constituição psíquica. Nesse trecho do artigo sobre morte (1914-1916), o doutor Freud apresenta o tema da morte como possível de ser encontrado na Literatura, escreve:
Constitui resultado inevitável de tudo isso que passamos a procurar no mundo da ficção, na literatura e no teatro a compensação pelo que se perdeu na vida. Ali encontraremos pessoas que sabem morrer - que conseguem inclusive matar alguém. Também só ali pode ser preenchida a condição que possibilita nossa reconciliação com a morte: a saber, que por detrás de todas as vicissitudes da vida devemos ainda ser capazes de preservar intacta uma vida, pois é realmente muito triste que tudo na vida deva ser como num jogo de xadrez, onde um movimento em falso pode forçar-nos a desistir dele, com a diferença, porém, de que não podemos começar uma segunda partida, uma revanche. No domínio da ficção, encontramos a pluralidade de vidas de que necessitamos. Morremos com o herói com o qual nos identificamos; contudo, sobrevivemos a ele, e estamos prontos a morrer novamente, desde que com a mesma segurança, com outro herói.
A presença da morte permeia o conto “O Enfermeiro”, que narrado em primeira pessoa trata do tema e do assassinar alguém. Assim o papel da Crítica Psicanalitica é identificar o complexo presente no personagem admitindo ele num meio social de tempo determinado. Os conflitos psicológicos deste personagem principal e narrador que apresenta em forma de declaração sua confissão, em que identifica-se nele dois comportamentos psíquicos um normal e civilizado e outro primitivo e falso. Essas duas características não são parte integrante da pisque do personagem, mas se revelam separadamente tendo como ponto determinante da mudança uma cena de tensão.
Procópio no inicio da narrativa apresenta-se como um homem livre de personalidade normal que vive dos favores de um padre antigo colega de escola, recebendo casa e comida em troca de seus serviços de copista. Compreende-se seu egocentrismo em não compreender sua posição subalterna de copista, mas de se coloca na posição do outro para quem trabalha, afirmando “fiz-me teólogo, copiava os estudos de teologia de um padre...” (MACHADO, pg. 93). Ele também possui uma auto estima elevada, pois quando perguntado se gostaria de servir como enfermeiro para um coronel de uma vila do interior ele aceitou e justificou “estava enfadado de copiar citações latinas e fôrmulas eclesiásticas”(idem), chegando a vila recebe as piores nóticias sobre o tratamento do coronel, mesmo assim não volta a traz respondendo “não tinha medo de gente sã, menos ainda de doente”(biidem). Então encontra o vigário que o leva para casa do coronel, onde viria a servir de enfermeiro.
Com o conviveu com o coronel Felisberto de personalidade sádica e impulsiva fazem com que Procópio baixe sua estima devido as moléstias e humilhações que passa a sofrer, mas tentando manter se piedoso; declara sobre o coronel; “Se fosse só rabugento, vá: mas ele era também mau, deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros”(MACHADO, pg. 94). Nesse momento o enfermeiro começa a sentir desprazer por estar naquela situação e como era uma pessoa egocêntrica e tinha por ignorância o habito de assumir a personalidade de quem trabalhava, começa a mudar sua personalidade, do que antes era identificada como “discreta e paciente”, passava agora a ser parecida com a do coronel dominado pela maldade, até o momento que assumi “Já por esse tempo tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente; trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão”.(MACHADO, PG. 96). Sentindo-se preso tenta liberta-se mais e convencido pelo coronel que justifica seus atos redimindo-se com Procópio e pedindo que ficasse, porque “não valia a pena zangar por uma rabugice de um velho” (MACHADO, pg. 95). Porém, os maltratos do coronel continuaram e ele foi até o vigário e ao médico avisar que ia embora, todavia os dois convenceram-lo de ficar.
Quando na noite de vinte e quatro de agosto de 1960, ele reage ao ataque do coronel que lhe joga uma moringa em sua face e o ameaça de morte, não controlando-se pula e engasga o coronel Felisberto até a morte. A mudança de seu estado psíquico tendo como ponto definidor sua ação criminosa, tenta redimir-se assim como o coronel, velando o morto ocultando as marcas comprometedoras de seu ato ilícito.
Tendo o objetivo de desfazer interpretações que levem a identificar esse personagem como um neurótico apresentar-se-á a diferença entre a mente de um neurótico e de um criminoso. No texto “Nos processos jurídicos” (1906), de Sigmund Freud encontra-se essa diferenciação, conforme se segue:
“Já apontamos a diferença principal: no neurótico o segredo está oculto de sua própria consciência; no criminoso, o segredo está oculto apenas dos senhores. No primeiro existe uma autêntica ignorância, embora não em todos os sentidos, enquanto no último só existe uma simulação de ignorância. Com essa diferença está em conexão uma outra que tem grande importância prática. Na psicanálise o paciente ajuda a combater sua resistência através de esforços conscientes, porque espera lucrar com essa investigação, isto é, curar-se. O criminoso, ao contrário, não cooperará com o trabalho dos senhores; se o fizesse, estaria trabalhando contra todo o seu próprio ego”.
O seu estado psicológico alterado começa a sofrer, pois o fato de não revelar seu crime cria em si uma culpa, que é reprimida, gerando os sintomas alucinatórios e perturbadores que atormentam a consciência culpada do criminoso personagem protagonista e narrador Procópio.
O inicio de seu complexo de culpa dar-se-á naquela própria noite quando começa a delira, com a primeira alucinação no próprio velório quando vê o coronel abrir os olhos e conversa com ele. Terminado o velório começa a recalcar esse sentimento de culpa através de alusões e transmissão da culpa para a vitima o coronel para qual prestava serviço, tentando assim convencer o leitor, justificando sua atitude passando de culpado para vitima.
Sua ação de aniquilamento do coronel por quem passa a odiar, ler-se-á na teoria freudiana se tratar de uma ação de um “homem primitivo que não tinha qualquer escrúpulo em ocasioná-lo”. Nota-se que o Enfermeiro é uma pessoa que possui essa característica impulsiva quando aceita o compromisso de servir para os cuidados do coronel. O sentimento de culpa ao qual passou a ser sujeito, que para o homem pré-histórico, escreve Freud, resultara do pecado original que a humanidade tem estado sujeita com o advento das doutrinas religiosas, não faziam parte de seu psiquismo, pois afirmava ser um homem sem religião, mas como vive numa sociedade de cultura cristã esses dogmas estão internalizados em sua mente.
Portanto a população da vila e enganada pelo enfermeiro, pois compreendem a morte do coronel como “resultado necessário da vida”, e por seu temperamento sua morte passa a ser o pagamento da divida com a sociedade, sendo inevitável e inegável sua ocorrência. Cuidadosamente evitam falar em outra hipótese o que leva a investigação de sua morte a terminar sem culpado.
A personalidade de Procópio encontrava-se abalada até o momento de receber a notícia por carta de que é o herdeiro universal do coronel. Nesse instante seu egocentrismo se eleva, assim assume o lugar do coronel e passa a viver em sua morada, todavia seu estado de conflito interior não muda continua alucinando o que o faz vender todos os bens herdados tentando redimir-se por seu assassinato comete as benecias de um bom cristão, mas nada de sanar seu estado patológico. Resolve consultar médicos que confortam seu ego transferindo a culpa para o próprio coronel. Assim, passa a acreditar que foi fatalismo o que acometera-se com ele, indagando-se; “Crime ou luta? Realmente, foi uma luta em que eu, atacado, defendi-me, e na defesa... Foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Feixei-me nessa idéia...”.
Então conclui-se que o fatalismo ao qual declara ter sido vitima não passa de uma tentativa de confortar seu ego da culpa sofrida com o trauma do assassinato que cometeu, era sim culpado pela morte do coronel, pois o fato de ser um aristocrata escravista de temperamento maldoso não justifica te-lo matado.
segunda-feira, 21 de outubro de 2013
ELEMENTOS DE COESÃO TEXTUAL
Prioridade, relevância: em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente, acima de
tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo;//
Tempo: então, enfim, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco antes, pouco
depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora,
atualmente, hoje, freqüentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes,
ocasionalmente, sempre, raramente, ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente,
nesse ínterim, enquanto isso, quando, assim que, logo que, mal, enquanto, antes que, depois
que, à medida que, à proporção que;//
Semelhança, comparação, conformidade: igualmente, da mesma forma, assim também, do
mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira
idêntica, de conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de
vista;//
Adição, continuidade: além disso, ademais, além do mais, ainda mais, ainda, também, não
só... mas também, acrescenta-se a isso, acrescido de, aliado a , acresce;//
Dúvida: talvez, provavelmente, é provável, hipoteticamente;//
Certeza, ênfase: de certo, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem
dúvida, inegavelmente, com toda a certeza, definitivamente, efetivamente, significativamente,
realmente, irrefutavelmente, na verdade;//
Surpresa, imprevisto: inesperadamente, inopinadamente, de súbito, surpreendentemente,
inoportunamente;//
Ilustração, esclarecimento: por exemplo, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a
saber, ilustra bem;//
Propósito, intenção, finalidade: com o fim de, a fim de, para que, para, com o propósito de,
propositadamente, intencionalmente, com o intuito de;//
Resumo, recapitulação, conclusão: em suma, em síntese, em conclusão, enfim, assim, dessa
forma, portanto, nesse sentido; então; //
Causa e conseqüência: por causa de, em virtude de, em razão de, porque, visto que, uma vez
que, em reflexo, como decorrência, por conseqüência, como resultado;//
Contraste, oposição, restrição, ressalva: entretanto, contudo, no entanto, em que pese, ainda
que, por outro lado, sob outro aspecto, sob outro ângulo, em contrapartida, mas, porém;//
(Material elaborado a partir do livro Práticas do dizer: um exercício de linguagem de Laís
Maria Passos Rodrigues)
terça-feira, 10 de setembro de 2013
Camões: Amor e os desconcertos do mundo
Os poemas de Camões apresentam diversos temas (tensões) que foram abordados pelo autor para demonstrar seus sentimentos e questionamentos, sendo eles: o amor e a mulher, o autobiografismo, o sentimento religioso, os desconcertos do mundo.
A crítica costuma definir a lírica de Camões em dois movimentos distintos, sendo uma com redominância pela temática amorosa e outra voltada para o “desconcerto do mundo”, espécie de grande reflexão sobre o homem e o seu lugar propiciado pela Modernidade.
O AMOR E A MULHER
“Pede-me o desejo, Dama, que vos veja”
Pede-me o desejo, Dama, que vos veja,
não entende o que pede; está enganado.
É este amor tão fino e tão delgado,
que quem o tem não sabe o que deseja.
Não há cousa a qual natural seja
que não queira perpétuo seu estado;
não quer logo o desejo o desejado,
porque não falte nunca onde sobeja.
Mas este puro afeito em mim se dana;
que, como a grave pedra tem por arte
o centro desejar da natureza,
assim o pensamento (pela arte
que vai tomar de mim, terrestre [e] humana)
foi, Senhora, pedir esta baixeza.
Encontramos neste soneto um pensamento sobre o amor, inicialmente falando-se sobre o desejo e de como quem ama não sabe ao certo o que deseja. O sentimento tão físico de desejar se transforma em platônico e não sendo concretizado é condição para que o amor seja eterno. Existe, então, o conflito entre o espiritual e o carnal quando o eu-lírico expõe a sua condição terrena e humana.
O amor e a referência à mulher são levados para o sentimento platônico, como pode se observar na primeira estrofe “É este amor tão fino e tão delgado”, porém também existe a contrariedade da condição humana em “que vai tomar de mim, terrestre [e] humana”, características que dão força dramática ao poema. Durante todo o tempo existe o conhecimento do que seja eterno e também a contrariedade do desejo físico, num questionamento que exprime também a força intelectual do poema.
Cantor dos desconcertos do mundo
Camões é o maior poeta lírico do Classicismo português. Dotado de inegável genialidade, coube a ele a melhor performance do soneto em língua portuguesa. Camões segue estritas regras de composição, obedecendo ao princípio da imitação, embebendo-se em fontes italianas como as do poeta Petrarca. A brevidade do soneto -- dois quartetos, dois tercetos -- requer grande concentração emocional, geralmente disposta sob a forma de tese-antítese com desfecho conclusivo que busca a síntese ou a unidade. A linguagem é condensada no decassílabo, utilizando a palavra de forma precisa, permeada pelo controle rígido da razão, mesmo quando o tema é uma aparente desordem. Assim, Camões é capaz de expressar-se de maneira extremamente concisa em sonetos narrativos como o famoso "Sete anos de pastor Jacó servia" e de lamentar de maneira semi-romântica a ausência da amada em "Alma minha gentil, que te partiste". É nos sonetos de análise que o poeta alcança maior desenvoltura, tecendo reflexões sobre o tempo - "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" - buscando uma definição do amor, ilustrada por uma de suas mais famosas produções - "Amor é fogo que arde sem se ver". Ele capta a psicologia feminina através de versos inesquecíveis, cujo exemplo mais significativo está em "Um mover de olhos, brando e piedoso". São muitas as composições lírico-amorosas, em que a mulher e o amor são idealizados como forma de atingir a supremacia do Bem e da Beleza. Camões se deixa levar por um certo sensualismo carnal que se opõe ao ideal petrarquiano do amor, ilustrado por "Transforma-se o amador na coisa amada". Além do tema amoroso, Camões se faz cantor dos desconcertos do mundo. Espírito muito atento à sua época tem plena consciência de que tudo muda nada é eterno. O homem, embora queira sempre atingir o ideal e a perfeição, depara-se com a terrível restrição imposta pela própria condição humana. O poeta chega à conclusão de que não existe o absoluto ou o eterno, restando a ele divagar sobre o real e o ideal, o eterno e o transitório, a morte e a vida, o pessoal e o universal. Nesses pares, encontram-se as mais profundas tensões que a lírica já deixou transparecer.
OS DESCONCERTOS DO MUNDO
“Ao desconcerto do Mundo”
Os bons vi sempre passar
no Mundo grandes tormentos;
e pera mais me espantar,
os maus vi sempre nadar
em mar de contentamentos.
Cuidando alcançar assim
o bem tão mal ordenado,
fui mau, mas fui castigado:
assim que, só pera mim,
anda o Mundo concertado.
O autor considera na primeira parte de seu poema que todos que são bons passam por “grandes tormentos” e que a vida de quem é mau, um “mar de contentamentos”. Em seguida, revela que para garantir essa vida feliz resolveu ser mau, porém foi castigado, e conclui que só para ele vale a regra de que só alcança o bem quem é bom: “assim que, só para mim, anda o Mundo concertado”; para o poeta, um desconcerto do mundo é premiar quem é mau e castigar quem é bom.
Neste poema encontramos a força musical nas suas rimas, no jogo entre as palavras bom,bem,mal,mau e também no uso da medida velha com o emprego da redondilha maior (versos de sete sílabas poéticas: Os/bons/vi/sem/pre/pas/sar), que garantem a musicalidade e a graça, características da lírica medieval mas que o poeta renova com o relato das experiências da sua vida e cujo resultado é a beleza de cenas do cotidiano humano.
BIBLIOGRAFIA
http://www.literapiaui.com.br/download/uespi-2011-sonetos.pdf
http://llfeioleituras.blogspot.com.br/2012/05/amor-e-desconcerto-do-mundo-nos-sonetos.html
LEITURA OBRIGATÓRIA: PRANTO DE MARIA PARDA; Gil Vicente
PRANTO DE MARIA PARDA
O Pranto de Maria Parda é uma das mais célebres peças de Gil Vicente. Intencionalmente, o grande dramaturgo, retratou a realidade das classes pobres de Lisboa, no Século XVI. Contrariando os discursos que enalteciam e louvavam a beleza e opulência da capital de um imenso império, Gil Vicente procura desvelar a vivência dos negros e mestiços chegados e nascidos na metrópole que, em Quinhentos, calcula-se que perfaziam 10% da população de Lisboa. Muitos eram alcoólatras, mal-cristianizados, deprimidos pela sub-vida serviçal e sem perspectivas de futuro a que estavam votados. Vêm-se carnalizados na figura literária de Maria, perspicaz e corrosiva observadora da sociedade, amante do vinho carrascão. Podemos imaginar apenas o impacto que o monólogo terá tido na corte e junto do monarca; quando se viu defronte de atrevida mestiça, da base da pirâmide social, para mais mulher, mais a mais sexualmente livre, assumir, entre canadas (litros) de vinho, uma das mais lúcidas e desesperançadas críticas à sociedade dos "fumos da Índia”.
Gil Vicente foi genial e arrojado, mas quinhentos anos depois já o império se foi, já nada diz. Na linha de exigência a que acostumou o seu público. Para lá da coisificação compulsiva, uma criatura parda; simultaneamente pária, perdida e deambulando com desespero na solidão, procurando uma voz que não responde: - "Não sei que faça..." – diz. "Quem quer fogo, busque lenha!" – troça de si. Opressão auto-infligida é um retrato e metáfora da fragilidade humana.
Maria Parda, poderosa sedutora cheia de espírito, sorumbática neurastênica, não é fácil de ser interpretada.
Por que vio as ruas de Lisboa com tão poucos ramos nas tavernas e o vinho tão caro, e ela não podia viver sem elle
Eu só quero prantear
Este mal que a muitos toca;
Que estou já como minhoca
Que puzerão a seccar.
Triste desaventurada,
Que tão alta está a canada
Pera mi como as estrellas;
Oh! coitadas das guelas!
Oh! guelas da coitada!
Triste desdentada escura,
Quem me trouxe a taes mazelas!
Oh! gengivas e arnellas,
Deitae babas de seccura;
Carpi-vos, beiços coitados,
Que já lá vão meus toucados,
E a cinta e a fraldilha;
Hontem bebi a mantilha,
Que me custou dous cruzados.
Oh! Rua de San Gião,
Assi 'stás da sorte mesma
Como altares de quaresma
E as malvas no verão.
Quem levou teus trinta ramos
E o meu mana bebamos,
Isto a cada bocadinho?
Ó vinho mano, meu vinho,
Que ma ora te gastamos.
Ó travessa zanguizarra
De Mata-porcos escura,
Como estás de ma ventura,
Sem ramos de barra a barra.
Porque tens ha tantos dias
As tuas pipas vazias,
Os toneis postos em pé?
Ou te tornaste Guiné
Ou o barco das enguias.
Triste quem não cega em ver
Nas carnicerias velhas
Muitas sardinhas nas grelhas;
Mas o demo ha de beber.
E agora que estão erguidas
As coitadas doloridas
Das pipas limpas da borra,
Achegou-lhe a paz com porra
De crecerem as medidas.
Ó Rua da Ferraria,
Onde as portas erão mayas,
Como estás cheia de guaias,
Com tanta louça vazia!
Ja m'a mim aconteceo
Na manhan que Deos naceo,
Á hora do nacimento,
Beber alli hum de cento,
Que nunca mais pareceo.
Rua de Cata-que-farás,
Que farei e que farás!
Quando vos vi taes, chorei,
E tornei-me por detras.
Que foi do vosso bom vinho,
E tanto ramo de pinho,
Laranja, papel e cana,
Onde bebemos Joanna
E eu cento e hum cinquinho.
Ó tavernas da Ribeira,
Não vos verá a vós ninguém
Mosquitos, o verão que vem,
Porque sereis areeira.
Triste, que será de mi!
Que ma ora vos eu vi!
Que ma ora me vós vistes!
Que ma ora me paristes,
Mãe da filha do ruim!
Quem vio nunca toda Alfama
Com quatro ramos cagados,
Os tornos todos quebrados!
Ó bicos da minha mama!
Bem alli ó Sancto Espírito
Ia eu sempre dar no fito
N'hum vinho claro rosete.
Oh! meu bem doce palhete,
Quem pudera dar hum grito!
Ó triste Rua dos Fornos,
Que foi da vossa verdura!
Agora rua d'amargura
Vos fez a paixão dos tornos.
Quando eu, rua, per vós vou,
Todolos traques que dou
São suspiros de saudade;
Pera vós ventosidade
Naci toda como estou.
Fui-me ó Poço do chão,
Fui-me á praça dos canos;
Carpi-vos, manas e manos,
Que a dezaseis o dão.
Ó velhas amarguradas,
Que antre três sete canadas
Sohiamos de beber,
Agora, tristes! remoer
Sete raivas apertadas.
Ó rua da Mouraria,
Quem vos fez matar a sêde
Pela lei de Mafamede
Com a triste d'agua fria?
Ó bebedores irmãos,
Que nos presta ser christãos,
Pois nos Deos tirou o vinho?
Ó anno triste cainho,
Porque nos fazes pagãos?
Os braços trago cansados
De carpir estas queixadas,
As orelhas engelhadas
De me ouvir tantos brados.
Quero-m'ir ás taverneiras,
Taverneiros, medideiras,
Que me dem hua canada,
Sôbre meu rosto fiada,
A pagar la polas eiras.
(Pede fiado á Biscaïnha.)
Ó Senhora Biscaïnha,
Fiae-me canada e meia,
Ou me dae hua candeia,
Que se vai esta alma minha.
Acudi-me dolorida,
Que trago a madre cahida,
E çarra-se-me o gorgomilo:
Enquanto posso engoli-lo,
Soccorei-me minha vida.
Biscainha
Não dou eu vinho fiado,
Ide vós embora, amiga.
Quereis ora que vos diga?
Não tendes isso aviado.
Dizem lá que não he tempo
De pousar o cu ao vento.
Sangrade-vos, Maria Parda;
Agora tem vez a Guarda
E a raia no avento.
(A João Cavalleiro, Castelhano).
Devoto João Cavalleiro,
Que pareceis Isaïas,
Dae-me de beber tres dias,
E far-vos-hei meu herdeiro.
Não tenho filhas nem filhos,
Senão canadas e quartilhos;
Tenho enxoval de guarda,
Se herdardes Maria Parda,
Sereis fóra d'empecilhos.
João Cavalleiro
Amiga, dicen por villa
Un ejemplo de Pelayo,
Que una cosa piensa el bayo
Y otra quien lo ensilla.
Pagad, si quereis beber;
Porque debeis de saber
Que quien su yegua mal pea,
Aunque nunca mas la vea,
Èl se la quiso perder,
(Vai-se a Branca Leda).
Branca mana, que fazedes?
Meu amor, Deos vos ajude;
Que estou no ataude,
Se me vós não accorredes.
Fiade-me ora tres meias,
Que ando por casas alheias
Com esta sêde tão viva,
Que ja não acho cativa
Gota de sangue nas veias.
Branca Leda
Olhade, mulher de bem,
Dizem qu'em tempo de figos
Não ha hi nenhuns amigos,
Nem os busque então ninguem.
E diz o exemplo dioso,
Que bem passa de guloso
O que come o que não tem.
Muita agua ha em Boratem
E no poço do tinhoso.
(Vai-se a João do Lumiar)
Senhor João do Lumiar,
Lume da minha cegueira,
Esta era a verde pereira
Em que vos eu via estar.
Fiae-me um gentar de vinho,
E pagar-vos-hei em linho,
Que ja minha lã não presta:
Tenho mandada hua besta
Por elle a antre Douro e Minho.
João do Lumiar
Exemplo de mulher honrada,
Que nos ninhos d'ora a hum anno
Não ha passaros oganno.
I-vos, que sois aviada.
Emquanto isto assi dura,
Matae com agua a seccura,
Ou ide a outrem enganar,
Que eu não m'hei de fiar
De mula com matadura.
(Indo pera casa de Martin Alho, vai dizendo):
Amara aqui hei d'estalar
Nesta manta emburilhada:
Oh! Maria Parda coitada,
Que não tens já que mijar!
Eu não sei que mal foi este,
Peor cem vezes que a peste,
Que quando era o trão e o tramo,
Andava eu de ramo em ramo
Não quero deste, mas deste.
(Diz a Martim Alho):
Martim Alho, amigo meu
Martim Alho meu amigo,
Tão secco trago o embigo
Como nariz de Judeu.
De sêde não sei que faça:
Ou fiado ou de graça,
Mano, soccorrede-me ora,
Que trago ja os olhos fóra
Como rala da negaça.
Martim Alho
Diz hum verso acostumado:
Quem quer fogo busque a lenha;
E mais seu dono d'acenha
Appella de dar fiado.
Vós quereis, dona, folgar,
E mandais-me a mim fiar?
Pois diz outro exemplo antigo,
Quem quizer comer comigo
Traga em que se assentar.
(Vai-se á Falula).
Amor meu, mana Falula,
Minha gloria e meu deleite,
Emprestae-me do azeite,
Que se me sécca a matula.
Até que haja dinheiro,
Fiae, que pouco requeiro,
Duas canadas bem puras,
Por não ficar ás escuras,
Que se m'arde o candieiro.
Falula
Diz Nabucodonosor
No sideraque e miseraque,
Aquelle que dá gran traque
Atravesse-o no salvanor.
E diz mais, quem muito pede,
Mana minha, muito fede.
Sete mil custou a pipa;
Se quereis fartar a tripa,
Pagae, que a vinte se mede.
Maria Parda
Raivou tanto sideraque
E tanta zarzagania,
Vou-me a morrer de sequia
Em cima d'hum almadraque.
E ante de meu finamento,
Ordeno meu testamento
Desta maneira seguinte,
Na triste era de vinte
E dous desde o nacimento.
TESTAMENTO
A minha alma encommendo
A Noé e a outrem não,
E meu corpo enterrarão
Onde estão sempre bebendo.
Leixo por minha herdeira
E tambem testamenteira,
Lianor Mendes d'Arruda,
Que vendeo como sesuda,
Por beber, at'á peneira.
Item mais mando levar
Por tochas cepas de vinha,
E hua borracha minha
Com que me hajão d'encensar,
Porque teve malvasia.
Encensem-me assi vazia,
Pois tambem eu assi vou;
E a sêde que me matou,
Venha pola cleresia.
Levar-me-hão em hum andor
De dia, ás horas certas
Que estão as portas abertas
Das tavernas per hu for.
E irei, pois mais não pude,
N'hum quarto por ataude,
Que não tivesse agua pé:
O sovenite a Noé
Cantem sempre a meude.
Diante irão mui sem pejo
Trinta e seis odres vazios,
Que despejei nestes frios,
Sem nunca matar desejo.
Não digão missas rezadas,
Todas sejão bem cantadas
Em Framengo e Allemão,
Porque estes me levarão
Ás vinhas mais carregadas.
Item dirão per dó meu
Quatro ou cinco ou dez trintairos,
Cantados per taes vigairos,
Que não bebão menos qu'eu.
Sejão destes tres d'Almada,
E cinco daqui da Sé,
Que são filhos de Noé,
A que som encommendada.
Venha todo o sacerdote
A este meu enterramento,
Que tiver tão bom alento
Como eu tive ca de cote.
Os de Abrantes e Punhete,
D'Arruda e d'Alcouchete,
D'Alhos-Vedros e Barreiro,
Me venhão ca sem dinheiro
Até cento e vinte e sete.
Item mando vestir logo
O frade allemão vermelho
Daquelle meu manto velho
Que tem buracos de fogo.
Item mais, mais mando dar
A quem se bem embebedar
No dia em que eu morrer,
Quanto movel hi houver
E quanta raiz se achar.
Item mando agasalhar
Das orphans estas nó mais
As que por beber dos paes
Ficão proves por casar.
Ás quaes darão por maridos
Barqueiros bem recozidos
Em vinhos de mui bôs cheiros;
Ou busquem taes escudeiros,
Que bebão coma perdidos.
Item mais me cumprirão
As seguintes romarias,
Com muitas ave-marias.
E não curem de Monção.
Vão por mim á Sancta Orada
D'Atouguia e d'Abrigada,
E a Curageira sancta,
Que me derão na garganta
Saude a peste passada
.Item mais me prometti
Nua á pedra da estrema,
Quando eu tive a postema
No beiço de baixo aqui.
E porque gran gloria senta,
Lancem-me muita agua benta
Nas vinhas de Caparica,
Onde meu desejo fica
E se vai a ferramenta.
Item me levarão mais
Hum gran cirio pascoal
Ao glorioso Seixal
Senhor dos outros Seixaes;
Sete missas me dirão
E os caliz encherão,
Não me digão missa sêcca;
Porque a dor da enchaqueca
Me fez esta devação.
Item mais mando fazer
Hum espaçoso esprital,
Que quem vier de Madrigal
Tenha onde se acolher.
E do termo d'Alcobaça
Quem vier dem-lhe em que jaça:
E dos termos de Leirea
Dem-lhe pão, vinho e candea,
E cama, tudo de graça.
Os d'Obidos e Santarém,
Se aqui pedirem pousada,
Dem-lhes de tanta pancada
Como de maos vinhos tem.
Homem d'Entre Douro e Minho
Não lhe darão pão nem vinho;
E quem de riba d'Avia for
Fazê-lhe por meu amor
Como se fosse vizinho.
Assi que por me salvar
Fiz este meu testamento,
Com mais siso e entendimento
Que nunca me sei estar.
Chorae todos meu perigo,
Não levo o vinho que digo,
Qu'eu chamava das estrellas,
Agora m'irei par'ellas
Com grande sêde comigo.
Estará em discussão neste estudo aquilo a que se poderá chamar a teatralidade intrínseca da obra de Gil Vicente que anda com o nome de Pranto de Maria Parda (PMP). Maria Parda lamenta-se pela falta de vinho nas tabernas de Lisboa, evocando os tempos em que ele era abundante e barato. Depois, resolve pedir o vinho fiado a alguns taberneiros que lho negam. Por fim, decide morrer e pronuncia um extenso testamento que se refere obsessivamente ao vinho.
Sobre a Obra
Figurando no Quinto Livro e último da Copilaçam de toda as obras de Gil Vicente (1562) que inclui, segundo informa o próprio compilador (decerto Luís Vicente), as trovas, e cousas miúdas, o PMP encontra-se ao lado de textos mais curtos e de espécie aparentemente diferente da dos autos. Estes haviam sido distribuídos pelos quatro primeiros Livros e, em quase todos, as notas em epígrafe, ao apresentarem o texto, assinalavam também a sua representação, com o local, a data e a ocasião. A maioria de tais rubricas relaciona as ações teatrais com festas e efemérides ligadas à vida da família real e do paço. Assim acontece com uma Visitação, que abre o Livro Primeiro e que, com as suas doze estrofes de monólogo, é coisa bem mais miúda que a maioria das composições do Quinto Livro. No entanto, nunca lhe poderíamos chamar as trovas do Vaqueiro porque foi texto representado na câmara da rainha (1502), segundo os preceitos e instruções relativa à representação teatral.
A rubrica do Pranto, que serve de título na Copilaçam, escreve assim:
De Gil Vicente em nome de Maria parda fazendo pranto porque viu as ruas de Lisboa com tão poucos ramos nas tavernas e o vinho tão caro e ela não podia viver sem ele
A colocação do PMP no último livro não é argumento para determinar o seu carácter de trovas escritas para leitura. O Quinto Livro é uma secção sortida de restos, perdidos e achados felizes de obras que andavam publicadas em folhetos e copiadas em cancioneiros de mão.
Na época manuelina eram tênues as fronteiras que separavam a invenção e execução da poesia das do teatro. E muito haveria a dizer sobre a teatralidade inerente à produção poética que figura no Cancioneiro Geral.
A própria Copilaçam de Gil Vicente, embora não no título mas sim nos antetextos, é chamada cancioneiro, ou seja, coletânea poética, obra para ser lida. E é possível que o fosse já então. O que não exclui a representabilidade dos textos aí coligidos.
Unidades dramáticas
l. Personagens
Maria Parda é personagem feminina, o que é raro no gênero monólogo dramático de então. Ela faz parte das comadres vicentinas velhas, todas personagens de teatro. A linguagem e a sua posição enunciativa __ um estado elementar de necessidade, uma atitude pulsional __ assemelham-se às da mãe de Isabel em Quem tem Farelos? E às velhas do auto da Festa e do Triunfo do Inverno. Maria Parda sofre ainda a caracterização de beberrona, o que não acontece com as suas congêneres, sendo suporte de uma série de traços goliárdicos (devassos) (a solidariedade das tabernas, os seus queridos manos e manas).
Se juntarmos tudo o que vai caracterizando Maria Parda obteremos um conjunto extraordinariamente variado: além do traje (a nudez e o manto), e da descrição realista do corpo velho e doente, existe a linguagem figurativa (repetições, trocadilhos, exageros, ironia), a mistura de níveis ou registros (da retórica cortesã à mais vernácula obscenidade), a forma arcaizante da segunda pessoa do plural (socorrede-me), as insistências num campo semântico muito primário (comida, doenças, preços, roupa), e uma riquíssima variedade ilocutória (lamento, pragas, apóstrofes animizadoras, exclamações, processos de sedução, pedido, grito, promessa). Note-se que não se trata de uma personagem de negra, quando muito uma Maria Mulata, pois que não existe qualquer fórmula específica da língua de preto, já então codificada. Mas o que fica sem resposta segura é o seguinte: terá havido um corpo de ator (Gil Vicente?) a representar este corpo?
Se olharmos de perto cada um dos seis taberneiros, com falas de apenas nove versos, dos quais três ou quatro são obrigatoriamente ocupados com provérbios, deparamos com uma caracterização bem concreta de alguns deles: a Falula mostra-se grosseira, João Cavaleiro é cristão-novo, Branca Leda só fala de comida. Estes taberneiros lisboetas funcionam ainda, note-se, como uma espécie de coro que comenta as súplicas de Maria Parda.
BIBLIOGRAFIA
http://professorparaense.com/mariaprada.htm
segunda-feira, 26 de agosto de 2013
ROTEIRO III PARTICIPANTES DO DISCURSO
ROTEIRO III PARTICIPANTES DO DISCURSO
1. FATOS (O QUÊ): é o tema que será abordado (assunto principal do texto)
2. PERSOANGENS/ PESSOAS (QUEM): pessoas envolvidas
3. ONDE: o lugar onde ocorreu
4. QUANDO: tempo em que ocorreu o fato.
o verbo haver, fazer e ser nas indicações de tempo exemplo,
há cinco anos não aparece aqui
faz cinco anos que não aparece aqui
era à hora da sobremesa.
A tais verbos podemos chamar impessoais essenciais
o verbo passar acompanhado de preposição de exprimindo tempo, exemplo:
já passava dois dias.
5. COMO: ocorreu o fato
o verbo ir acompanhado de adverbio ou locução adverbial para exprimir como ocorrem as coisas a alguém:
6. POR QUÊ: ocorreu o fato
EXEMPLO: Suponhamos que a notícia é sobre um incêndio. Escrevendo o peimeiro parágrafo, o repórter responderia a pergunta: O que? Escrevendo”incendiouse”... Responderia as perguntas Quem? E Onde? Dizendo o estabelecimento queimado, e dando a sua locaização. Dizendo a hora em que o incêndio começou e quando terminou responderia Quandov Por que? Neste caso a causa do ocorrido: a inevitável ponta de cigarro acesa. Nosso repórter pode responder Como? Nesta história, de diversas maneiras – descrevendo o tipo de fogo, Labaredas avivadas por um vento constante ou também respondendo a Quanto? , neste caso ele calcularia a provável perda financeira e procuraria saber se o estabelecimento estava no seguro. (PG. 160, BOND)
CARACTERISTICA
NOTO: Uma noticia deve ser imparcial e objetiva, ou seja, deve expor fatos e não opiniões. A linguagem deve ser impessoal, clara, direta e precisa.
Impessoalidade: 3º pessoa do verbo e dos pronomes
Não deve aparecer a opinião do escritor, e a linguagem e direta e concisa, resumindo-se ao essencial.
Objetivo: difundir a verdade e objetivar os fatos, eis a finalidade do ideal jornalismo.
Obs: alguns recursos não devem ser esquecidos quando da escritura de um texto discursivo é o fato do que se quer dizer deve ser escrito de forma completa, para não deixar o leitor no ar, para isso deve ser escrito os detalhes completos (corpo). Outro fator e a clareza e a exatidão do que se estar escrevendo.
sexta-feira, 21 de junho de 2013
"Labeling Approach" ou etiquetamento
Em meados do século XX, nos Estados Unidos, surgiu uma nova corrente fenomenológica denominada “Labelling Approach”, também conhecida por Teoria da Reação Social, do etiquetamento ou da rotulação. Emergiu com um novo enfoque sobre a formatação do
delito, dando maior ênfase ao estudo do próprio sistema penal, inclusive na análise de seu funcionamento desigual. Este novo paradigma é considerado por muitos estudiosos, como Lola de Aniyar de Castro1, a gênese da Criminologia Crítica.
Conforme ensinamento da autora acima mencionada: “[...] Esta escola deixou
estabelecido, finalmente, que a causa do delito é a lei, não quem a viola, por ser a lei que
transforma condutas lícitas em ilícitas”.
O “Labelling Approach” tem como pressuposto básico a idéia de que não se
pode entender a criminalidade sem associá-la a atuação de agências oficiais. Isto quer dizer que só se pode falar em agente desviante da lei a partir da ação do sistema penal, entendida esta em seu sentido mais amplo, desde a elaboração das normas abstratas, até a perseguição provocada pelos agentes propriamente dita (atuação da magistratura, do Ministério Público etc.). Assim, Alessandro Baratta dispõe que “[...] o labelling approach tem se ocupado principalmente com as
reações das instâncias oficiais de controle social, considerados na sua função constitutiva em face
da criminalidade”.
Surge então uma nova forma de visão acerca da criminalidade. O criminoso
deixa de ser visto como um ser intrinsecamente bom ou mal, ou provido de fatores
biopsicológicos que o formatam como delinqüente, e passam a ser um fruto de uma construção social (moldagem da realidade social), proveniente do contato que o agente desviante tem com as instâncias oficiais. Alessandro Baratta fala de duas matrizes técnicas que formatam a criminalidade, quais sejam, o interacionismo simbólico e a etnometodologia:
“[...] Segundo o interacionismo simbólico, a sociedade – ou seja, a realidade
social – é constituída por uma infinidade de interações concretas entre
indivíduos, aos quais um processo de tipificação confere um significado que se
afasta das situações concretas e continua a estender-se através da linguagem.
Também segundo a etnometodologia, a sociedade não é uma realidade que se
possa conhecer sobre o plano objetivo, mas o produto de uma ‘construção
social’. Obtida graças a um processo de definição e de tipificação por parte dos
indivíduos e de grupos diversos”.
Este paradigma constrói uma nova forma de visualização do delinqüente: o
marginalizado. Este só aparece quando há atuação daqueles que perseguem os fatos ilícitos.
Assim, não basta a prática de um ato ilegal, é necessária a reação social. Infringir a lei, por si só, não torna alguém criminoso (na visão social); é preciso que este agente desviante sofra atuação das instâncias oficiais e seja “selecionado” a integrar o grupo dos sujeitos tidos como criminosos dentro da sociedade. Esta visão torna-se clara com o entendimento de Vera Regina de Andrade:
“[...] A criminalidade se revela, principalmente, como um status atribuído a
determinados indivíduos mediante um duplo processo: a ‘definição’ legal de
crime, que atribui à conduta o caráter criminal e a ‘seleção’ que etiqueta e
estigmatiza um autor como criminoso entre todos aqueles que praticam tais
condutas”.
Fonte:DA SILVA, Diego Gomes Alves e Simone Tavares Batista; OS EFEITOS DA TEORIA DA REAÇÃO SOCIAL (LABELLING APPROACH) NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA,
terça-feira, 28 de maio de 2013
CONTO: Madame Zoraide
Marcus Demóstenes tomou a mais nobre decisão de sua vida. Depois de ter lido a maioria dos cânones da Literatura Brasileira, do “boca do inferno”, passando pela leitura de Marília de Dirceu, deleitando-se com o romantismo de Gonçalves Dias, até chegar na leitura de Machado de Assis escritor que o encantou. Estava na idade da razão, quando leu “A Ressurreição”, obra que iria marcar sua vida.
 CLIQUE AQUI PARA LER
Na faculdade de psicologia leu “para viver um grande amor”, texto de Vinícios de Moraes, responsável em colocar o ponto final em seu princípio que consistia em ser um homem de uma só mulher. Respondia a todos que o indagavam:- Por que não tinha namorada? – Ser de muitas mulheres não tinha nem um valor. E para os que o chamavam de homossexual, respondia:- Conheça-me primeiro fará juízo seguro.
CLIQUE AQUI PARA LER
Na faculdade de psicologia leu “para viver um grande amor”, texto de Vinícios de Moraes, responsável em colocar o ponto final em seu princípio que consistia em ser um homem de uma só mulher. Respondia a todos que o indagavam:- Por que não tinha namorada? – Ser de muitas mulheres não tinha nem um valor. E para os que o chamavam de homossexual, respondia:- Conheça-me primeiro fará juízo seguro.
 Sempre lembrava-se do livro de Machado, as jovens mandavam-lhe correspondência amorosas, declarações como as cantigas de amor medieval, ele compreendia que elas confundiam sua nobreza, sua doçura e suas boas intenções com seu libido sexual. Seu encanto para com elas era tamanho que poderia assumir uma postura de Dom Juan. Mas não, o vez, o personagem de Machado tinha lhe ensinado: “não adiantava ter todas e nem uma”, teria uma vida vazia. Preferia acreditar existir dentre todas uma que seria sua senhora por todo sempre.
Sempre lembrava-se do livro de Machado, as jovens mandavam-lhe correspondência amorosas, declarações como as cantigas de amor medieval, ele compreendia que elas confundiam sua nobreza, sua doçura e suas boas intenções com seu libido sexual. Seu encanto para com elas era tamanho que poderia assumir uma postura de Dom Juan. Mas não, o vez, o personagem de Machado tinha lhe ensinado: “não adiantava ter todas e nem uma”, teria uma vida vazia. Preferia acreditar existir dentre todas uma que seria sua senhora por todo sempre.
 Sua vida a partir dessa decisão de ser um homem de uma só mulher passou a ser dividida pelas mulheres que o tentavam provocando mesmo o seu ego e seus colegas que zombavam de seu princípio, mesmo assim procurava e apesar de jamais encontrar. Seus amigos não compreendiam sua postura, mas Marcus sabia que ela estava em algum lugar. Certo dia veio a sua memória as indagações: O que fazer? Como deveria fazer? Onde a encontraria?
Sua vida a partir dessa decisão de ser um homem de uma só mulher passou a ser dividida pelas mulheres que o tentavam provocando mesmo o seu ego e seus colegas que zombavam de seu princípio, mesmo assim procurava e apesar de jamais encontrar. Seus amigos não compreendiam sua postura, mas Marcus sabia que ela estava em algum lugar. Certo dia veio a sua memória as indagações: O que fazer? Como deveria fazer? Onde a encontraria?
 Esse questionar para si começou a ser freqüente chegando a perturbar sua consciência. Toda a psicologia que estudara na faculdade não estava adiantando. Tomou a decisão de contar para uma amiga sua sina, seu princípio e as perguntas que passaram a perturbar sua consciência. Ela o orientou que não se tratava de um princípio, mas sim de uma premissa de seu eu para si mesmo e que deveria ir a uma cartomante. Um oráculo cabalístico para poder ser orientado melhor e assim garantir uma luz em seu caminho. Ela o explicou como via sua situação:- Estais caminhando meu amigo no escuro e precisa dessa orientação, pois, assim saíras das trevas onde te encontras agora perdido sem horizonte de expectativa. Ele não ficou convencido acreditava ser sua ciência maior que qualquer misticismo mais mesmo assim anotou o número telefônico, prometendo ligar.
Esse questionar para si começou a ser freqüente chegando a perturbar sua consciência. Toda a psicologia que estudara na faculdade não estava adiantando. Tomou a decisão de contar para uma amiga sua sina, seu princípio e as perguntas que passaram a perturbar sua consciência. Ela o orientou que não se tratava de um princípio, mas sim de uma premissa de seu eu para si mesmo e que deveria ir a uma cartomante. Um oráculo cabalístico para poder ser orientado melhor e assim garantir uma luz em seu caminho. Ela o explicou como via sua situação:- Estais caminhando meu amigo no escuro e precisa dessa orientação, pois, assim saíras das trevas onde te encontras agora perdido sem horizonte de expectativa. Ele não ficou convencido acreditava ser sua ciência maior que qualquer misticismo mais mesmo assim anotou o número telefônico, prometendo ligar.
 Depois de uns dias, buscando sem encontrar, olhando sua agenda telefônica os números das moças que havia conhecido durante esses tempos, apareceu o telefone de Madame Zoraide como era chamada à senhora mística que viria a iluminar seu caminho. Pensou vou ligar agora mesmo.
-Olá, boa tarde gostaria de falar com Madame Zoraide.
-É ela, sobre o que se trata.
-Fui orientado a ir com a senhora, pois teria respostas para minhas dúvidas.
-Sim, posso ajudar. Meu endereço é Rua dos Tamoios, Vila Cinco irmãos casa 03.
Anotou o endereço, o dia e a hora de sua consulta. O enamorado que até então era de todas e de nem uma, apresentou-se na hora e no local marcado. Foi confiante, e nem pensava em duvidar de uma palavra se quer do oráculo. Já havia sido orientado por uma pessoa de confiança, isso bastava.
A consulta durou cerca de uma hora. A análise do “livro de páginas soltas”, como Madame Zoraide chamava sua ferramenta de trabalho, deu-lhe uma orientação para o futuro a suas perguntas: O que fazer? Como deveria fazer? Onde a encontraria?
Esses questionamentos levou a uma leitura do tarô por Madame Zoraide de seu futuro, assim, disse ela: -Segue um caminho até encontrar-te numa encruzilhada, perguntar-te-á qual caminho seguir, o da direito ou o da esquerda, perguntarás para um velho e ele te dirá o melhor caminho a seguir. Dizendo mais: – Quando ofereceres teu dinheiro achará que está duvidando de sua palavra e de sua boa fé, esse senhor recusará teu dinheiro e acrescentará, quando voltares eu estarei aqui, lembre de mim.
Saiu da consulta e seguiu seu caminho a procurar sem nunca encontrar. Passaram-se dias, meses e anos e nada. Foi quando num repente tudo se revelou, estava andando quando uma moça jovem e bonita luziu em sua frente. Parada olho-o de ponta a cabeça e perguntou qual caminho deveria tomar para chegar até Em Almeirim. Então viu-se numa encruzilhada, olhou para a direita olhou para e a esquerda. Ficou embaraçado, entretanto conseguiu em sobressaltos falar:
– Por que está indo para lá?
A moça com emoção respondeu estar indo visitar sua mãe que estava muito doente e precisava de sua companhia. Marcus disse-lhe que deveria tomar o caminho da direita. A moça estendeu um dinheiro para lhe retribuir a ajuda. Ele não aceitou, mas deu-lhe seu telefone para que ligasse. No outro dia a morena de olhos d’água, que tinha luzido em sua frente, ligou e marcaram um encontro. Assim deu-se o princípio de uma relação amorosa que duraria por toda a vida.
Depois de uns dias, buscando sem encontrar, olhando sua agenda telefônica os números das moças que havia conhecido durante esses tempos, apareceu o telefone de Madame Zoraide como era chamada à senhora mística que viria a iluminar seu caminho. Pensou vou ligar agora mesmo.
-Olá, boa tarde gostaria de falar com Madame Zoraide.
-É ela, sobre o que se trata.
-Fui orientado a ir com a senhora, pois teria respostas para minhas dúvidas.
-Sim, posso ajudar. Meu endereço é Rua dos Tamoios, Vila Cinco irmãos casa 03.
Anotou o endereço, o dia e a hora de sua consulta. O enamorado que até então era de todas e de nem uma, apresentou-se na hora e no local marcado. Foi confiante, e nem pensava em duvidar de uma palavra se quer do oráculo. Já havia sido orientado por uma pessoa de confiança, isso bastava.
A consulta durou cerca de uma hora. A análise do “livro de páginas soltas”, como Madame Zoraide chamava sua ferramenta de trabalho, deu-lhe uma orientação para o futuro a suas perguntas: O que fazer? Como deveria fazer? Onde a encontraria?
Esses questionamentos levou a uma leitura do tarô por Madame Zoraide de seu futuro, assim, disse ela: -Segue um caminho até encontrar-te numa encruzilhada, perguntar-te-á qual caminho seguir, o da direito ou o da esquerda, perguntarás para um velho e ele te dirá o melhor caminho a seguir. Dizendo mais: – Quando ofereceres teu dinheiro achará que está duvidando de sua palavra e de sua boa fé, esse senhor recusará teu dinheiro e acrescentará, quando voltares eu estarei aqui, lembre de mim.
Saiu da consulta e seguiu seu caminho a procurar sem nunca encontrar. Passaram-se dias, meses e anos e nada. Foi quando num repente tudo se revelou, estava andando quando uma moça jovem e bonita luziu em sua frente. Parada olho-o de ponta a cabeça e perguntou qual caminho deveria tomar para chegar até Em Almeirim. Então viu-se numa encruzilhada, olhou para a direita olhou para e a esquerda. Ficou embaraçado, entretanto conseguiu em sobressaltos falar:
– Por que está indo para lá?
A moça com emoção respondeu estar indo visitar sua mãe que estava muito doente e precisava de sua companhia. Marcus disse-lhe que deveria tomar o caminho da direita. A moça estendeu um dinheiro para lhe retribuir a ajuda. Ele não aceitou, mas deu-lhe seu telefone para que ligasse. No outro dia a morena de olhos d’água, que tinha luzido em sua frente, ligou e marcaram um encontro. Assim deu-se o princípio de uma relação amorosa que duraria por toda a vida.
 CLIQUE AQUI PARA LER
Na faculdade de psicologia leu “para viver um grande amor”, texto de Vinícios de Moraes, responsável em colocar o ponto final em seu princípio que consistia em ser um homem de uma só mulher. Respondia a todos que o indagavam:- Por que não tinha namorada? – Ser de muitas mulheres não tinha nem um valor. E para os que o chamavam de homossexual, respondia:- Conheça-me primeiro fará juízo seguro.
CLIQUE AQUI PARA LER
Na faculdade de psicologia leu “para viver um grande amor”, texto de Vinícios de Moraes, responsável em colocar o ponto final em seu princípio que consistia em ser um homem de uma só mulher. Respondia a todos que o indagavam:- Por que não tinha namorada? – Ser de muitas mulheres não tinha nem um valor. E para os que o chamavam de homossexual, respondia:- Conheça-me primeiro fará juízo seguro.
 Sempre lembrava-se do livro de Machado, as jovens mandavam-lhe correspondência amorosas, declarações como as cantigas de amor medieval, ele compreendia que elas confundiam sua nobreza, sua doçura e suas boas intenções com seu libido sexual. Seu encanto para com elas era tamanho que poderia assumir uma postura de Dom Juan. Mas não, o vez, o personagem de Machado tinha lhe ensinado: “não adiantava ter todas e nem uma”, teria uma vida vazia. Preferia acreditar existir dentre todas uma que seria sua senhora por todo sempre.
Sempre lembrava-se do livro de Machado, as jovens mandavam-lhe correspondência amorosas, declarações como as cantigas de amor medieval, ele compreendia que elas confundiam sua nobreza, sua doçura e suas boas intenções com seu libido sexual. Seu encanto para com elas era tamanho que poderia assumir uma postura de Dom Juan. Mas não, o vez, o personagem de Machado tinha lhe ensinado: “não adiantava ter todas e nem uma”, teria uma vida vazia. Preferia acreditar existir dentre todas uma que seria sua senhora por todo sempre.
 Sua vida a partir dessa decisão de ser um homem de uma só mulher passou a ser dividida pelas mulheres que o tentavam provocando mesmo o seu ego e seus colegas que zombavam de seu princípio, mesmo assim procurava e apesar de jamais encontrar. Seus amigos não compreendiam sua postura, mas Marcus sabia que ela estava em algum lugar. Certo dia veio a sua memória as indagações: O que fazer? Como deveria fazer? Onde a encontraria?
Sua vida a partir dessa decisão de ser um homem de uma só mulher passou a ser dividida pelas mulheres que o tentavam provocando mesmo o seu ego e seus colegas que zombavam de seu princípio, mesmo assim procurava e apesar de jamais encontrar. Seus amigos não compreendiam sua postura, mas Marcus sabia que ela estava em algum lugar. Certo dia veio a sua memória as indagações: O que fazer? Como deveria fazer? Onde a encontraria?
 Esse questionar para si começou a ser freqüente chegando a perturbar sua consciência. Toda a psicologia que estudara na faculdade não estava adiantando. Tomou a decisão de contar para uma amiga sua sina, seu princípio e as perguntas que passaram a perturbar sua consciência. Ela o orientou que não se tratava de um princípio, mas sim de uma premissa de seu eu para si mesmo e que deveria ir a uma cartomante. Um oráculo cabalístico para poder ser orientado melhor e assim garantir uma luz em seu caminho. Ela o explicou como via sua situação:- Estais caminhando meu amigo no escuro e precisa dessa orientação, pois, assim saíras das trevas onde te encontras agora perdido sem horizonte de expectativa. Ele não ficou convencido acreditava ser sua ciência maior que qualquer misticismo mais mesmo assim anotou o número telefônico, prometendo ligar.
Esse questionar para si começou a ser freqüente chegando a perturbar sua consciência. Toda a psicologia que estudara na faculdade não estava adiantando. Tomou a decisão de contar para uma amiga sua sina, seu princípio e as perguntas que passaram a perturbar sua consciência. Ela o orientou que não se tratava de um princípio, mas sim de uma premissa de seu eu para si mesmo e que deveria ir a uma cartomante. Um oráculo cabalístico para poder ser orientado melhor e assim garantir uma luz em seu caminho. Ela o explicou como via sua situação:- Estais caminhando meu amigo no escuro e precisa dessa orientação, pois, assim saíras das trevas onde te encontras agora perdido sem horizonte de expectativa. Ele não ficou convencido acreditava ser sua ciência maior que qualquer misticismo mais mesmo assim anotou o número telefônico, prometendo ligar.
 Depois de uns dias, buscando sem encontrar, olhando sua agenda telefônica os números das moças que havia conhecido durante esses tempos, apareceu o telefone de Madame Zoraide como era chamada à senhora mística que viria a iluminar seu caminho. Pensou vou ligar agora mesmo.
-Olá, boa tarde gostaria de falar com Madame Zoraide.
-É ela, sobre o que se trata.
-Fui orientado a ir com a senhora, pois teria respostas para minhas dúvidas.
-Sim, posso ajudar. Meu endereço é Rua dos Tamoios, Vila Cinco irmãos casa 03.
Anotou o endereço, o dia e a hora de sua consulta. O enamorado que até então era de todas e de nem uma, apresentou-se na hora e no local marcado. Foi confiante, e nem pensava em duvidar de uma palavra se quer do oráculo. Já havia sido orientado por uma pessoa de confiança, isso bastava.
A consulta durou cerca de uma hora. A análise do “livro de páginas soltas”, como Madame Zoraide chamava sua ferramenta de trabalho, deu-lhe uma orientação para o futuro a suas perguntas: O que fazer? Como deveria fazer? Onde a encontraria?
Esses questionamentos levou a uma leitura do tarô por Madame Zoraide de seu futuro, assim, disse ela: -Segue um caminho até encontrar-te numa encruzilhada, perguntar-te-á qual caminho seguir, o da direito ou o da esquerda, perguntarás para um velho e ele te dirá o melhor caminho a seguir. Dizendo mais: – Quando ofereceres teu dinheiro achará que está duvidando de sua palavra e de sua boa fé, esse senhor recusará teu dinheiro e acrescentará, quando voltares eu estarei aqui, lembre de mim.
Saiu da consulta e seguiu seu caminho a procurar sem nunca encontrar. Passaram-se dias, meses e anos e nada. Foi quando num repente tudo se revelou, estava andando quando uma moça jovem e bonita luziu em sua frente. Parada olho-o de ponta a cabeça e perguntou qual caminho deveria tomar para chegar até Em Almeirim. Então viu-se numa encruzilhada, olhou para a direita olhou para e a esquerda. Ficou embaraçado, entretanto conseguiu em sobressaltos falar:
– Por que está indo para lá?
A moça com emoção respondeu estar indo visitar sua mãe que estava muito doente e precisava de sua companhia. Marcus disse-lhe que deveria tomar o caminho da direita. A moça estendeu um dinheiro para lhe retribuir a ajuda. Ele não aceitou, mas deu-lhe seu telefone para que ligasse. No outro dia a morena de olhos d’água, que tinha luzido em sua frente, ligou e marcaram um encontro. Assim deu-se o princípio de uma relação amorosa que duraria por toda a vida.
Depois de uns dias, buscando sem encontrar, olhando sua agenda telefônica os números das moças que havia conhecido durante esses tempos, apareceu o telefone de Madame Zoraide como era chamada à senhora mística que viria a iluminar seu caminho. Pensou vou ligar agora mesmo.
-Olá, boa tarde gostaria de falar com Madame Zoraide.
-É ela, sobre o que se trata.
-Fui orientado a ir com a senhora, pois teria respostas para minhas dúvidas.
-Sim, posso ajudar. Meu endereço é Rua dos Tamoios, Vila Cinco irmãos casa 03.
Anotou o endereço, o dia e a hora de sua consulta. O enamorado que até então era de todas e de nem uma, apresentou-se na hora e no local marcado. Foi confiante, e nem pensava em duvidar de uma palavra se quer do oráculo. Já havia sido orientado por uma pessoa de confiança, isso bastava.
A consulta durou cerca de uma hora. A análise do “livro de páginas soltas”, como Madame Zoraide chamava sua ferramenta de trabalho, deu-lhe uma orientação para o futuro a suas perguntas: O que fazer? Como deveria fazer? Onde a encontraria?
Esses questionamentos levou a uma leitura do tarô por Madame Zoraide de seu futuro, assim, disse ela: -Segue um caminho até encontrar-te numa encruzilhada, perguntar-te-á qual caminho seguir, o da direito ou o da esquerda, perguntarás para um velho e ele te dirá o melhor caminho a seguir. Dizendo mais: – Quando ofereceres teu dinheiro achará que está duvidando de sua palavra e de sua boa fé, esse senhor recusará teu dinheiro e acrescentará, quando voltares eu estarei aqui, lembre de mim.
Saiu da consulta e seguiu seu caminho a procurar sem nunca encontrar. Passaram-se dias, meses e anos e nada. Foi quando num repente tudo se revelou, estava andando quando uma moça jovem e bonita luziu em sua frente. Parada olho-o de ponta a cabeça e perguntou qual caminho deveria tomar para chegar até Em Almeirim. Então viu-se numa encruzilhada, olhou para a direita olhou para e a esquerda. Ficou embaraçado, entretanto conseguiu em sobressaltos falar:
– Por que está indo para lá?
A moça com emoção respondeu estar indo visitar sua mãe que estava muito doente e precisava de sua companhia. Marcus disse-lhe que deveria tomar o caminho da direita. A moça estendeu um dinheiro para lhe retribuir a ajuda. Ele não aceitou, mas deu-lhe seu telefone para que ligasse. No outro dia a morena de olhos d’água, que tinha luzido em sua frente, ligou e marcaram um encontro. Assim deu-se o princípio de uma relação amorosa que duraria por toda a vida.
sábado, 18 de maio de 2013
PORTUGUÊS DO BRASIL versus PORTUGUÊS DE PORTUGAL: querelas
 Defesa da Língua Brasileira Nacional
Defesa da Língua Brasileira Nacional
 RIBEIRO (1933)
A Língua Nacional:
Esse texto tem caracteristica de uma exaltação à alma e ao espírito brasileiro, libertos,
via língua, das amarras que prendiam ao reino português. (pg. 87)
“Parece todavia incrível que a nossa Independência ainda conserve essa algema nos
pulsos, e que a personalidade de americanos pague tributo à submissão das palavras.
(...)
1 A nossa gramática não pode ser inteiramente a mesma dos portugueses. As
diferenciações regionais reclamam estilo e metodo diversos.
2· A verdade é que, corrigindo-nos, estamos de fato a muktilar idéias e sentimentos que
nos são pessoais.
3· Já não é a língua que apuramos, é nosso espiritoque sujeitamos a servilismo
inexplicavel.
4· Falar diferentemente não é falar errado. (...)
5· Na linguagem como na natureza, não há igualdades absolutas; não há, pois,
expressões diferentes que nã correspondam tambem a idéias ou a sentimentos
diferentes.
6· Trocar um vocabulo, uma inflexão por outra de Coimbra, é alterar o valor de ambos
a preço de uniformidades artificiosas e enganadoras. (...)
7· Não podemos, sem mentira e sem mutilação perniciosa, sacrificar a consciencia das
nossas proprias expressões.
8· Corrigi-las pode ser um abuso que afete e compromete a sensibilidade imanente a
todas elas.
9· Os nossos modos de dizer são diferentes e legitimos e, o que é melhor, são imediatos
e conservam, pois, o perfume do espirito que os dita”.
Nota: Ribeiro deixa de ser neutralidade cientifica, para expressar sua clara posição
apaixonada à unidade brasílica do português americano.
RIBEIRO (1933)
A Língua Nacional:
Esse texto tem caracteristica de uma exaltação à alma e ao espírito brasileiro, libertos,
via língua, das amarras que prendiam ao reino português. (pg. 87)
“Parece todavia incrível que a nossa Independência ainda conserve essa algema nos
pulsos, e que a personalidade de americanos pague tributo à submissão das palavras.
(...)
1 A nossa gramática não pode ser inteiramente a mesma dos portugueses. As
diferenciações regionais reclamam estilo e metodo diversos.
2· A verdade é que, corrigindo-nos, estamos de fato a muktilar idéias e sentimentos que
nos são pessoais.
3· Já não é a língua que apuramos, é nosso espiritoque sujeitamos a servilismo
inexplicavel.
4· Falar diferentemente não é falar errado. (...)
5· Na linguagem como na natureza, não há igualdades absolutas; não há, pois,
expressões diferentes que nã correspondam tambem a idéias ou a sentimentos
diferentes.
6· Trocar um vocabulo, uma inflexão por outra de Coimbra, é alterar o valor de ambos
a preço de uniformidades artificiosas e enganadoras. (...)
7· Não podemos, sem mentira e sem mutilação perniciosa, sacrificar a consciencia das
nossas proprias expressões.
8· Corrigi-las pode ser um abuso que afete e compromete a sensibilidade imanente a
todas elas.
9· Os nossos modos de dizer são diferentes e legitimos e, o que é melhor, são imediatos
e conservam, pois, o perfume do espirito que os dita”.
Nota: Ribeiro deixa de ser neutralidade cientifica, para expressar sua clara posição
apaixonada à unidade brasílica do português americano.
 JOSÉ PEDRO MACHADO
O português do Brasil:
1 Sua obra tem característica de não exarcebação e de veemência a língua portuguesa.
“Os patrioteirismos, sempre deslocados, devem ser postos de parte, assim como os
brasileiros lusofilos em excesso e os portugueses de espíritos dissolente, enfim,
afastemos todos os que não tenham condições para meditar à frio”.
2 Sobre a língua brsileira nacional e sua individualidade
“Lembro que o nome do ilustre académico não é, nem pode ser, desconhecido. Trata-se
de um poeta 8, cuja glória foi coroada com aquêle admirável Martin Carerê, dedicado
ao Brsil-menino. Nessas pagínas, ao lado da simplecidade tão bela, aparece-nos um
português razoável.
Por isso, ocorre perguntar: Por que não emprega o delicado poeta nas suas obras uma
língua absolutamente diferente da minha (pergunta)
Além de justificar a existência do 'dialecto dignificado', tornava-se coerente com teor
do discurso feito na academia brasileira”. (Ênfase acrscida pelo autor)
CÂMARA JUNIOR
“Como quer que seja, as discrêpancias de língua padrão entre Brasil e Portugal não
devem ser explicadas por um suposto substrato tupi ou por uma suposta profunda
influência africana, como se tem feito às vezes. resultam essencialmente de se achar a
língua em dois territórios nacionais distintos e separados.
A partir do período do português popular e dialetal do Brasil é, naturalmente, outro.
Nele podem ter atuado substratos indígenas, não necessariamente, tupi, e os falares
africados, na estrutura, na estrutura fonológica e garmatical. Também se verificaram,
por ouro lado, sobrevivências de traços portugueses arcaicos, que não se eliminaram
de áreas isoladas ou laterais em relação às grandes correntes de comunicação da vida
colonial. A imensa vastidão do território brasileiro e as modalidades de uma
exploração intermitente e caprichosa já propiciavam, aliás, por si sós, uma complexa
dialetação, que ainda está por estudar cabalmente”.
CONCLUSÃO DAS TRÊS POSIÇÕES SOBRE A LÍNGUA NACIONAL
Câmara Junior advogou, como vimos, a inevitabilidade da diferenciação entre os dois
sistemas, pois cada um deles, em território diverso, continuou a sua história natural. João
Ribeiro e Cassiano Ricardo apregoaram a independência lingüística do sistema
brasileiro, portanto, a diferenciação a fim de garantir a individualização do idioma (ou
de um idioma) nacional brasileiro. José Pedro Machado garantiu e defendeu a unidade da Língia brasileira.
Referência feita ao poeta Cassiano Ricardo, a sua leitura feita no dia 30 de janeiro de 1941, na
Academia Brasileira de Letras, institulado “A Academia é a língua brasileira”.
lingüística do português, ficando a língua brasileira de João Ribeiro e de Cassiano
Ricardo reduzido a um dialeto da língua portuguesa (de Portugal).
TEMPOS LINGÜÍSTICOS: Itinerário histórico da língua portuguesa.
TARALLO, Fernando, ed. Ática,1990.
JOSÉ PEDRO MACHADO
O português do Brasil:
1 Sua obra tem característica de não exarcebação e de veemência a língua portuguesa.
“Os patrioteirismos, sempre deslocados, devem ser postos de parte, assim como os
brasileiros lusofilos em excesso e os portugueses de espíritos dissolente, enfim,
afastemos todos os que não tenham condições para meditar à frio”.
2 Sobre a língua brsileira nacional e sua individualidade
“Lembro que o nome do ilustre académico não é, nem pode ser, desconhecido. Trata-se
de um poeta 8, cuja glória foi coroada com aquêle admirável Martin Carerê, dedicado
ao Brsil-menino. Nessas pagínas, ao lado da simplecidade tão bela, aparece-nos um
português razoável.
Por isso, ocorre perguntar: Por que não emprega o delicado poeta nas suas obras uma
língua absolutamente diferente da minha (pergunta)
Além de justificar a existência do 'dialecto dignificado', tornava-se coerente com teor
do discurso feito na academia brasileira”. (Ênfase acrscida pelo autor)
CÂMARA JUNIOR
“Como quer que seja, as discrêpancias de língua padrão entre Brasil e Portugal não
devem ser explicadas por um suposto substrato tupi ou por uma suposta profunda
influência africana, como se tem feito às vezes. resultam essencialmente de se achar a
língua em dois territórios nacionais distintos e separados.
A partir do período do português popular e dialetal do Brasil é, naturalmente, outro.
Nele podem ter atuado substratos indígenas, não necessariamente, tupi, e os falares
africados, na estrutura, na estrutura fonológica e garmatical. Também se verificaram,
por ouro lado, sobrevivências de traços portugueses arcaicos, que não se eliminaram
de áreas isoladas ou laterais em relação às grandes correntes de comunicação da vida
colonial. A imensa vastidão do território brasileiro e as modalidades de uma
exploração intermitente e caprichosa já propiciavam, aliás, por si sós, uma complexa
dialetação, que ainda está por estudar cabalmente”.
CONCLUSÃO DAS TRÊS POSIÇÕES SOBRE A LÍNGUA NACIONAL
Câmara Junior advogou, como vimos, a inevitabilidade da diferenciação entre os dois
sistemas, pois cada um deles, em território diverso, continuou a sua história natural. João
Ribeiro e Cassiano Ricardo apregoaram a independência lingüística do sistema
brasileiro, portanto, a diferenciação a fim de garantir a individualização do idioma (ou
de um idioma) nacional brasileiro. José Pedro Machado garantiu e defendeu a unidade da Língia brasileira.
Referência feita ao poeta Cassiano Ricardo, a sua leitura feita no dia 30 de janeiro de 1941, na
Academia Brasileira de Letras, institulado “A Academia é a língua brasileira”.
lingüística do português, ficando a língua brasileira de João Ribeiro e de Cassiano
Ricardo reduzido a um dialeto da língua portuguesa (de Portugal).
TEMPOS LINGÜÍSTICOS: Itinerário histórico da língua portuguesa.
TARALLO, Fernando, ed. Ática,1990.
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
A gratuidade e obrigatoriedade da Educação Brasileira
 A ligação entre o direito à educação escolar e a democracia tem a legislação como um de seus suportes e invocará o Estado como provedor desse bem, seja para garantir a igualdade de oportunidades, seja para, uma vez mantido esse objetivo, intervir no domínio das desigualdades, que nascem do conflito da distribuição capitalista da riqueza, e progressivamente reduzir as desigualdades.
A intervenção tornar-se-á mais concreta quando da associação entre gratuidade e obrigatoriedade, já que a obrigatoriedade é um modo de sobrepor uma função social relevante e imprescindível de uma democracia a um direito civil. Essa intervenção, posteriormente, se fará no âmbito da liberdade de presença da iniciativa privada na educação escolar, de modo a autorizar seu funcionamento e pô-la sublege.
Essa ligação entre a educação e a escolaridade como forma de mobilidade social e de garantia de direitos tem um histórico que é variável de país para país, considerados os determinantes socioculturais de cada um.
Uma análise magistral que invoca a trajetória dos direitos, seja para classificálos,seja para mostrar sua progressiva evolução, é aquela oferecida por um célebre texto de Thomas Marshall (1967). Ele se debruça sobre a experiência da Inglaterrae a partir daí diferencia os direitos e os classifica por períodos. Desse modo, os direitos civis se estabeleceriam no século XVIII, os políticos, no século XIX, e os sociais, no século XX. Nessa trajetória o autor fará referências à educação e à instrução escolar.
Para o autor, a história do direito à educação escolar é semelhante à luta por uma legislação protetora dos trabalhadores da indústria nascente, pois, em ambos os casos, foi no século XIX que se lançaram as bases para os direitos sociais como integrantes da cidadania. Segundo Marshall, “a educação é um pré-requisito necessárioda liberdade civil” e, como tal, um pré-requisito do exercício de outros direitos.
O Estado, neste caso, ao interferir no contrato social, não estava conflitando com os direitos civis. Afinal, esses devem ser utilizados por pessoas inteligentes e de bom senso e, para tanto, segundo o autor, o ler e o escrever são indispensáveis.
A ligação entre o direito à educação escolar e a democracia tem a legislação como um de seus suportes e invocará o Estado como provedor desse bem, seja para garantir a igualdade de oportunidades, seja para, uma vez mantido esse objetivo, intervir no domínio das desigualdades, que nascem do conflito da distribuição capitalista da riqueza, e progressivamente reduzir as desigualdades.
A intervenção tornar-se-á mais concreta quando da associação entre gratuidade e obrigatoriedade, já que a obrigatoriedade é um modo de sobrepor uma função social relevante e imprescindível de uma democracia a um direito civil. Essa intervenção, posteriormente, se fará no âmbito da liberdade de presença da iniciativa privada na educação escolar, de modo a autorizar seu funcionamento e pô-la sublege.
Essa ligação entre a educação e a escolaridade como forma de mobilidade social e de garantia de direitos tem um histórico que é variável de país para país, considerados os determinantes socioculturais de cada um.
Uma análise magistral que invoca a trajetória dos direitos, seja para classificálos,seja para mostrar sua progressiva evolução, é aquela oferecida por um célebre texto de Thomas Marshall (1967). Ele se debruça sobre a experiência da Inglaterrae a partir daí diferencia os direitos e os classifica por períodos. Desse modo, os direitos civis se estabeleceriam no século XVIII, os políticos, no século XIX, e os sociais, no século XX. Nessa trajetória o autor fará referências à educação e à instrução escolar.
Para o autor, a história do direito à educação escolar é semelhante à luta por uma legislação protetora dos trabalhadores da indústria nascente, pois, em ambos os casos, foi no século XIX que se lançaram as bases para os direitos sociais como integrantes da cidadania. Segundo Marshall, “a educação é um pré-requisito necessárioda liberdade civil” e, como tal, um pré-requisito do exercício de outros direitos.
O Estado, neste caso, ao interferir no contrato social, não estava conflitando com os direitos civis. Afinal, esses devem ser utilizados por pessoas inteligentes e de bom senso e, para tanto, segundo o autor, o ler e o escrever são indispensáveis.
 A educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e, quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em mente, sem sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania. Está tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o objetivo da educação durante a infância é moldaro adulto em perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado não como o direito da criança freqüentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado.(p. 73)
Em outro momento de sua análise, ele reforça a tese iluminista que, a instrução,deve ser objeto da coerção estatal, já que o ignorante perde as condições reaisde apreciar e escolher livremente as coisas. Afinal, a marca do homem burguês é a autonomia com relação a poderes estranhos, e cuja concepção teórica básica se expressa em normas legais, que instituem a igualdade entre os indivíduos e nas suas relações com as coisas.
O final do século XIX demonstra que, na experiência européia, a educação primária era gratuita e obrigatória. A obrigatoriedade não só não era uma exceção ao laissez-faire, como era justificada no sentido de a sociedade produzir pessoas com mentes maduras, minimamente “iluminadas”, capazes de constituir eleitorado esclarecido e trabalhadores qualificados. Thomas Marshall (1967), comentando e citando o pensamento do economista liberal neoclássico Alfred Marshall, diz:
A educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e, quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em mente, sem sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania. Está tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o objetivo da educação durante a infância é moldaro adulto em perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado não como o direito da criança freqüentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado.(p. 73)
Em outro momento de sua análise, ele reforça a tese iluminista que, a instrução,deve ser objeto da coerção estatal, já que o ignorante perde as condições reaisde apreciar e escolher livremente as coisas. Afinal, a marca do homem burguês é a autonomia com relação a poderes estranhos, e cuja concepção teórica básica se expressa em normas legais, que instituem a igualdade entre os indivíduos e nas suas relações com as coisas.
O final do século XIX demonstra que, na experiência européia, a educação primária era gratuita e obrigatória. A obrigatoriedade não só não era uma exceção ao laissez-faire, como era justificada no sentido de a sociedade produzir pessoas com mentes maduras, minimamente “iluminadas”, capazes de constituir eleitorado esclarecido e trabalhadores qualificados. Thomas Marshall (1967), comentando e citando o pensamento do economista liberal neoclássico Alfred Marshall, diz:
 …o Estado teria de fazer algum uso de sua força de coerção, caso seus ideais devessem ser realizados. Deve obrigar as crianças a freqüentarem a escola porque o ignorante não pode apreciar e, portanto, escolher livremente as boas coisas quediferenciam a vida de cavalheiros daquela das classes operárias. […] Ele reconheceu somente um direito incontestável, o direito de as crianças serem educadas, e neste único caso ele aprovou o uso de poderes coercivos pelo Estado…(p. 60, 63MARSHALL, T. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.)
…o Estado teria de fazer algum uso de sua força de coerção, caso seus ideais devessem ser realizados. Deve obrigar as crianças a freqüentarem a escola porque o ignorante não pode apreciar e, portanto, escolher livremente as boas coisas quediferenciam a vida de cavalheiros daquela das classes operárias. […] Ele reconheceu somente um direito incontestável, o direito de as crianças serem educadas, e neste único caso ele aprovou o uso de poderes coercivos pelo Estado…(p. 60, 63MARSHALL, T. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.)
 A obrigatoriedade da educação e seu direito público estão instituídas e legitimadas no Brasil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo Art. 55, “Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”, nota-se que o não cumprimento desse direito pode acarretar a prisão dos pais ou responsaveis pelas crianças, e sua frequência é dever tanto do Estado como da família assegurar, como se lê no artigo 54, insiso§ 3º “Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola”.. Do ponto de vista do poder público os alunos tem sua frequência acompanhada pelo Conselho Tutelar e pelo Juiz da Infância e do Adolescente que em conjunto com as Instituições de Ensino tem o controle da frequência dos alunos que na hipótese de ausência de um aluno cabe ao diretor da escola comunicar ao Conselho Tutelar que se prontificará a chamar a atenção famíliar para o fato e seu esclarecimento. E cabe a escola apresentar à justiça o panorama de frequência e aprovação dos alunos que devem possuir na conformidade do texto da Lei de Diretrizes e Bases uma presença superior a 70% para a aprovação de qualquer aluno matriculado.
Fonte: MARSHALL, T. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
A obrigatoriedade da educação e seu direito público estão instituídas e legitimadas no Brasil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo Art. 55, “Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”, nota-se que o não cumprimento desse direito pode acarretar a prisão dos pais ou responsaveis pelas crianças, e sua frequência é dever tanto do Estado como da família assegurar, como se lê no artigo 54, insiso§ 3º “Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola”.. Do ponto de vista do poder público os alunos tem sua frequência acompanhada pelo Conselho Tutelar e pelo Juiz da Infância e do Adolescente que em conjunto com as Instituições de Ensino tem o controle da frequência dos alunos que na hipótese de ausência de um aluno cabe ao diretor da escola comunicar ao Conselho Tutelar que se prontificará a chamar a atenção famíliar para o fato e seu esclarecimento. E cabe a escola apresentar à justiça o panorama de frequência e aprovação dos alunos que devem possuir na conformidade do texto da Lei de Diretrizes e Bases uma presença superior a 70% para a aprovação de qualquer aluno matriculado.
Fonte: MARSHALL, T. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013
CRASE 8: A crase aposta ao demonstrativo "aquele", “aquela” e “aquilo”
A ocorrência da crase com os pronomes aquele(s), aquela(s) e aquilo depende apenas da verificação da presença da preposição que antecede esses pronomes:
Veja aquele monumento. /
Veja aquela praça. /
Veja aquilo.
NOTA:O verbo ver é transitivo direto:
não há preposição
Refiro-me àquele jardim. /
Refiro-me àquela praça. /
Refiro-me àquilo.
NOTA: O verbo referir-se é verbo transitivo indireto e rege a preposição a
Exemplo:
“Iremos amanhã àquele sítio.”
NOTA: Nada de pensar que o fato de a palavra aquele ser masculina proíbe o uso da crase. O que não se admite é que o artigo feminino seja empregado em função de substantivo masculino. Mas, no caso acima, não aparece tal artigo, e sim a preposição a contraída com o demonstrativo aquele (iniciado pela vogal a).
CRASE 7: A crase em expressões não adverbiais
Usa-se crase quando a preposição a, combina com o artigo a, inicia objeto indireto ou objeto direto preposicionado. Ex.
“Dei um presente à criança.”
NOTA: À criança: objeto indireto.
“À pátria amou Caxias.”
NOTA 1: À pátria: objeto direto preposicionado.
Na frase “A pátria amou Caxias” (sem crase), o sujeito seria “a pátria”, e “Caxias” estaria funcionando como objeto direto.
NOTA 2: Caso os termos da oração aparecessem na ordem direta (primeiro o sujeito, depois o verbo, em seguida o objeto direto), a crase seria desnecessária.
Assim: “Caxias amou a pátria”.
CRASE 6: A crase em orações adjetivas
Ocorre quando funciona como pronome relativo a locução “o qual” ou “as quais” combina com a preposição a.Em tal circunstância teremos: à qual, às quais.
Ex:
a) Esteve em nosso escritório uma representante da “Escola Presidente Dutra”, à qual emprestamos vários livros./
a’) Esteve em nosso escritório um representante da “Escola Presidente Dutra”, ao qual emprestamos vários livros. //
b) Estiveram em nosso escritório duas representantes da “Escola Presidente Dutra”, às quais emprestamos vários livros./
b’) Estiveram em nosso escritório dois representantes da “Escola Presidente Dutra”, aos quais emprestamos vários livros.
NOTA: Para saber se a qual ou as quais deve ou não apresentar a craseado, vale a pena usar o recurso de substituir expressão feminina por masculina. Nos exemplos em pauta, substituímos “uma representante” por “um representante”, e “duas representantes por "dois representantes”. Com isto, apareceu ao no lugar de à, e aos no lugar de às, o que justifica a crase.
CRASE 5: A crase em expressões adverbiais
A preposição tem a propriedade de mudar a função gramatical de determinadas expressões. Suponhamos, então, que, para transformar certa expressão não adverbial em adverbial, seja necessário o emprgo da preposição a. Por exemplo:
“ A vontade” (artigo + substantivo) é expressão substantiva.
Com o acréscimo da preposição a essa expressão substantiva se transformará em um adjunto adverbial (de modo).Ex:
“Esteja à vontade.”
NOTA: à: contração da preposição a com o artigo a. O primeiro a é a preposição que transformou a expressão substantiva em adverbial. O segundo é o artigo feminino que modifica o substantivo vontade.
IMPORTANTE
É claro que a contração da preposição a com o artigo a só acontece antes de palavras femininas, pois não cabe ao artigo feminino modificar substantivo masculino.
Maria voltou a cavalo. (certo)/
Maria voltou à cavalo. (errado)
NOTA: “À cavalo” é expressão absurda, pois à (com crase) é contração da preposição a com o artigo a, e não se concebe que o substantivo cavalo (masculino) seja modificado por palavra feminina.
Também não se escreve: "Voltou à correr” (com crase), porque não existe verbo modificado pelo artigo a. O certo é “Voltou a correr”, sendo preposição simples o a que precede o verbo.
Exemplos de adjuntos adverbiais iniciados pela preposição “a” combinada com o artigo “a”:
1- Vendemos à vista. (À vista: adj. Adverbial de modo)/
2- Voltamos à tarde. (À tarde; adj. Adverbial de tempo)/
3- Conserve-se à direita. (À direita; adj. Adverbial de lugar)/
4- Às vezes ele se excedia. (Às vezes; adj. Adverbial de tempo)
NOTA 1: O acento indicador de crase é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas:
à tarde, à chave, à noite,
à escuta, à direita, à deriva,
às claras, às avessas, às escondidas
às moscas, à toa, à revelia
à beça, à luz, à esquerda
à larga, às vezes, às ordens
às ocultas, às turras,à beira de
à sombra de, à exceção de , à força de
à frente de, à imitação de, à procura de,
à semelhança de, à proporção que, à medida que
NOTA 2: Incluem-se nessas expressões as indicações de horas especificadas: Ex:
à meia-noite, / às duas horas/
à uma hora,/ às três e quarenta
NOTA: Não confunda com as indicações não especificadas:Ex:
Isso acontece a qualquer hora.
CRASE 4: Um artifício para saber se "a" deve ou não deve ser craseado
1- Verificar a existência de uma preposição é, antes de mais nada, aplicar os conhecimentos de regência verbal e nominal que você acaba de obter.
Observe:
Conheço a diretora. /
Refiro-me à diretora.
No primeiro caso, o verbo é transitivo direto (conhecer algo ou alguém), portanto não existe preposição e não pode ocorrer crase. No segundo caso, o verbo é transitivo indireto (referir-se a algo ou a alguém) e rege a preposição a, portanto a crase é possível, desde que o termo seguinte seja feminino e admita o artigo feminino a ou um dos pronomes já especificados.
Para verificar a existência de um artigo feminino ou de um pronome demonstrativo após uma preposição a, podem-se utilizar dois expedientes práticos. O primeiro deles consiste em colocar um termo masculino de mesma natureza no lugar do termo feminino a respeito do qual se tem dúvida. Se surgir a forma ao, ocorrerá crase antes do termo feminino.
Observe:
Conheço o diretor. - Conheço a diretora. /
Refiro-me ao diretor. - Refiro-me à diretora./
Prefiro o quadro da direita ao da esquerda. - Prefiro a tela da direita à da esquerda.
“Fui à festa.”/
“Fui ao jogo.”
2- Se, na substituição da palavra feminina pela masculina, aparecer apenas o, fica esclarecido que a circunstância não exige a preposição. Então, antes do substantivo feminino emprega-se a não craseado. Ex:
“Vi a festa.” /
“Vi o jogo.”
segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013
DIVULGAÇÃO: Cidadania em destaque
O Instituto de Língua Viva tem o prazer de divulgar à possibilidade que o Senado Federal do Brasil disponibilizou a partir do portal E-CIDADÃO. Portanto "todo cidadão tem a possibilidade de contribuir com a função legislativa do Senado. Aproveite e proponha a criação de uma nova lei para o nosso país. EX:
Se a sua ideia for aprovada pelas outras pessoas e receber a quantidade de apoios necessários, ela será avaliada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e poderá tramitar formalmente no Senado". CLIQUE AQUI E PARTICIPE
sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013
CRASE 3: A crase antes de substantivo feminino oculto
A crase pode existir mesmo sem substantivo feminino ao lado da palavra a, desde que tal substantivo possa ser subentendido. Ex:
“Cozinhamos à Rossini.”
NOTA: Neste caso ficou oculta a palavra moda: Cozinhamos à moda Rossini.”
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
CRASE 2: Casos em que a crase deve ou não deve ser empregada
Para saber se um nome próprio de lugar pode ser precedido de a craseado. O vestibulando deve verificar se o nome exige ou rejeita o artigo, em outras circunstâncias. Sabe-se por exemplo, que a palavra Alemanha não rejeita o artigo, motivo por que se diz “Gostei da Alemanha” (e não “Gostei de Alemanha). Logo, escreve-se com crase: “Vou à Alemanha”, sabendo-se que à é contração da preposição a com o artigo a que referido topônimo exige. Por outro lado, escreve-se: “Vou a Brasília” (sem crase), porque se diz “Gostei de Brasília” (e não “Gostei da Brasília”).
Com as expressões adverbiais de lugar formadas por nomes de cidades, países, estados, deve-se fazer a verificação da ocorrência da crase por meio da troca do termo regente:
Vou à Bahia. Vim da Bahia. /Estou na Bahia.
Vou à Itália. - Vim da Itália. /Estou na Itália.
Vou a Florença. - Vim de Florença. /Estou em Florença.
Vou à deslumbrante Florença. - Vim da deslumbrante Florença. / Estou na deslumbrante Florença.
Não se esqueça de verificar os dois lados. Não basta constatar que surge da ou na antes de Itália, por exemplo. Isso não é garantia de acento indicador de crase; é garantia apenas de que existe artigo antes de Itália. Para que ocorra crase, é preciso que o termo anterior peça a preposição a. No caso de "Visitei a Itália", por exemplo, não há crase, já que visitar é verbo transitivo direto.
Também a palavra CASA, empregada com o sentido de LAR, costuma aparecer desacompanhada de artigo:
NOTA:
Logo, se ao lado de tal palavra aparecer a, não devemos usar a crase, já que se trata de preposição simples.
Quando, porém, se usa qualquer expressão qualificativa ou determinativa como o dono ou morador, ou qualquer qualificação ao lado desse substantivo, o artigo tem cabimento: “Vou à casa de Pedro.”, “Vou à casa que comprei”, "Vou à casa amarela”.” Irei à casa de meus pais”.
Não se usa igualmente o artigo a antes do substantivo terra empregado para designar a parte continental do planeta (em oposição à parte marítima). Ex:
NOTA: Neste exemplo, o a é apenas preposição.
O mesmo se observa nas frases seguintes: “Já estamos em terra”, “Rumemos para terra”, onde não se observa o uso do artigo.
A função do demonstrativo abrange a do artigo. Portanto, quando se usa um dispensa-se o outro. Vejamos:
NOTA: É fácil admitir o despropósito do artigo em tais frases.
Se, portanto, aparecer a palavra a antes do demonstrativo essa ou esta, pode-se saber que se trata de preposição simples, o que proibirá o emprego da crase.
Ex:
A crase com o demonstrativo a(s) é detectável pelo expediente da substituição do termo regido feminino por um termo regido masculino:
Sua proposta é semelhante à dele. - Seu projeto é semelhante ao dele.
É evidente que não se usa artigo definido ao lado de artigos ou pronomes indefinidos. Ex:
NOTA: Logicamente, nestas duas frases o a aparece não craseado. Se o fosse, estaria incidindo a contração da preposição a com o artigo a, o que é absurdo, pois não tem cabimento usar o artigo definido ao lado de palavra cujo propósito é exprimir indefinição.
Também os pronomes pessoais, em como os de tratamento (você, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, etc.) são usados sem o artigo, razão por que ao seu lado não se emprega a craseado. Ex:
Não ocorre crase nas expressões formadas por palavras femininas repetidas:
cara a cara/ gota a gota/
face a face/ frente a frente
É fácil perceber por quê. Basta usar expressões formadas por palavras
masculinas:
corpo a corpo/ lado a lado /passo a passo /dia a dia
Assinar:
Comentários (Atom)
Pesquisar este blog
-
Neste ensaio devo esclarecer que a análise do conto, de Danton Travisan, “Uma vela para Dário”, será feita pelo víeis da psicologia, mas esp...
-
O vestibulando deve compreender que o texto em prosa discursivo dissertativo tem origem do gênero grego-romano Retórico ou Eloquente e seu e...
Translate
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Livro publicado

Livro infantil.
encontro
Caminhando pensei em minha esposa que mesmo tendo lhe agraciado com tudo do mundo. Ela me responderia: - Tem mais alguma coisa, além disso.
Universidade do Estado do Pará - UEPA
Índia

Raquel Quaresma