
Pouco se sabe sobre a vida de Gil Vicente, autor de Auto da Barca do Inferno. Ele teria nascido por volta de 1465, em Guimarães ou em outro lugar na região da Beira. Casado duas vezes, teve cinco filhos, incluindo Paula e Luís Vicente, que organizou a primeira compilação das suas obras.
Gil Vicente (1465 — 1536) é geralmente considerado o primeiro grande dramaturgo português, além de poeta de renome. Há quem o identifique com o ourives, autor da Custódia de Belém, mestre da balança, e com o mestre de Retórica do rei Dom Manuel. Enquanto homem de teatro, parece ter também desempenhado as tarefas de músico, actor e encenador. É frequentemente considerado, de uma forma geral, o pai do teatro português, ou mesmo do teatro ibérico já que também escreveu em castelhano - partilhando a paternidade da dramaturgia espanhola com Juan del Encina.
A obra vicentina é tida como reflexo da mudança dos tempos e da passagem da Idade Média para o Renascimento, fazendo-se o balanço de uma época onde as hierarquias e a ordem social eram regidas por regras inflexíveis, para uma nova sociedade onde se começa a subverter a ordem instituída, ao questioná-la. Foi, o principal representante da literatura renascentista portuguesa, anterior a Camões, incorporando elementos populares na sua escrita que influenciou, por sua vez, a cultura popular portuguesa.
(Wikipédia, acesso 25/11/2008)
ESTILO
Uma vida intensa percorre a expressão verbal em Gil Vicente, e dá-lhe uma aparência voçosa, sem partes mortas, concreta sem deixar de ser tradicional. Gil Vicente não é sob o ponto de vista lingüístico e estilístico um inovador. A sua retórica só conhece as formas simples do esclarecimento, e prefere as imagens tradicionais, como estrela, flor, nave, mar, as cascatas em estilo de ladainhas. Mas há um admirável ritmo em crescendo, copioso e estusiasta, além da constante riqueza de evocações a percorrer estas seqüências. Gil Vicente é também fiel à tradição no uso predominante da redondilha maior (verso de sete sílabas); e ainda quando combina este verso com os seus quebrados, como secede no “Auto da Alma” ou n’“O Velho da Horta”. Mas sabe usar com mestria o verso mais longo (onze, doze, treze sílabas).
Não obstante o uso do verso, Gil Vicente sugere toda a vivacidade da linguagem coloquial. O verso não serve nele para marcar distância literária, a não ser em certas tiradas intencionalmente líricas ou oratórias. Serve, sim, para valorizar a língua corrente, chamado a atenção do leitor para paralelismos ou contrastes, enfim para tirar efeitos implíncitos na fala quotidiana, tal como sucede com a maior parte dos provérbios tradicionais.
Não se pode, aliás, falar de uma linguagem coloquial em Gil Vicente, antes de várias, de acordo com o estilo das peças, e com a condição social das personagens. Na época de Gil Vicente há uma diversidade grande de falares, segundo não só a diversidade das regiões, mas também a das condições sociais. Gil Vicente acusa esta diversidade, variando a expressão fonética ou sintáctica, o vocabulário e as fórmulas de tratamento conforme a origem social dos personagens. O estudo fundamental de Teyssier registra a considerável variabilidade desses indicativos sociais e até psicológicos. São os rústicos que empregam exclusivamente certas formas, como por exemplo “eigreja” (em lugar de “igreja”, que é a forma utilizada pelas personagens urbanas), e são eles, em geral, que se exprimem em linguagem mais arcaica, da mesma forma que entoam os catares e executam as danças que caíam em desuso nas cidades.
A FARSA EM GIL VICENTE
Na forma mais simples, a farsa reduz-se a um episódio colhido em cômico flagrante na vida da personagem típica. Tal o caso de “Quem tem farelos”, onde se conta o percalço sucedido a um triste escudeiro namorador, corrido pela mãe da reuestada, sob uma chuva de troças e maldições entre a cabeça e o cabo da peça. É o caso da “Farsa dos Al mocreves”, ou a do “Clérigo da Beira”. Nesta última aparecem-nos sucessivamente um padre rezando distraidamente as matinas, um rústico roubado na corte, e um escravo negro que rouba: as personagens dão lugar umas às outras, não havendo unidade de acção. Por vezes, também, os episódios e as personagens agrupam-se dentro de uma unidade orgânica, embora faltando-lhe um processo de desenvolvimento, como no caso de “O Juiz da Beira”, perante cujo tribunal comparecem vários casos. Enfim, há a considerar certas farsas mais desenvolvidas que são histórias completas, com princípio, meio e fim. É o caso do “Auto da índia”, onde se conta a história de uma mulher que enganou o marido, alistado no ultramar; ou o do “Auto de Inês Pereira”, que ilustra com uma história picante o dito popular <
( História da Literatura Portuguesa, Antônio José Saraiva, U. de Lisboa, 1969)
QUESTÃO:
PUC-SP) A próxima questão refere-se à Farsa do Velho da Horta, escrita em 1512 por Gil Vicente.
A respeito dessa obra pode afirmar-se que:
a) peca por não apresentar perfeito domínio do diálogo entre as personagens, resvalando, muitas vezes, por monólogos desnecessários.
b) sofre da ausência de exploração do cômico, já que, tematicamente, permanece na esfera do amor senil.
c) utiliza pouco aparato cênico para sugerir o ambiente em que decorre a peça, já que a pobreza cenotécnica é uma de suas características.
d) falha por falta de unidade de ação provocada por longas digressões, como a ladainha mágica da alcoviteira.
e) obedece rigorosamente ao tratamento do tempo e respeita as normas que dele a tradição consagrou.



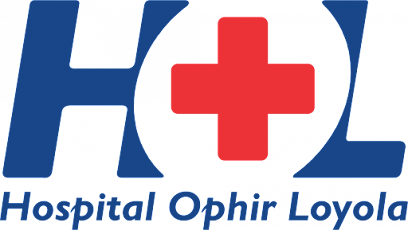

































Nenhum comentário:
Postar um comentário